Add your promotional text...
MULHER (sussurrando)
“Você parece alguém que ardeu tanto... que agora tem medo de soprar uma vela.”
O HOMEM
“Talvez eu seja a vela.”
Não quero mais sobreviver.
Quero me sujar de vida.
Quero amar como o sangue que canta.
Quero me tocar
sem pedir desculpa.
Quero sentir sem ter que merecer
O corpo… esse pedaço de barro nervoso…
onde todas as guerras se hospedaram…
onde todos os amores fizeram seu acampamento
CAPÍTULO 1 – DO NASCIMENTO SEM GLÓRIA
Verso 1
No início era o grito. E o grito não vinha de Deus, vinha de dentro.
Verso 2
A luz não veio primeiro. Primeiro veio o tapa. Depois o choro. Depois a pergunta: "pra quê?"
Verso 3
E não houve resposta. Houve leite, febre, ausência. Houve braços que seguravam, e braços que soltavam.
Verso 4
O homem nasceu não de uma virgem, mas de uma mulher exausta. Não numa manjedoura, mas numa sala fria, onde as luzes gritam e os médicos esquecem que o milagre é a dor.
Verso 5
E o milagre era este: mesmo sem sentido, ele respirou. Mesmo sem motivo, ele foi nomeado. Mesmo sem direção, ele cresceu.
CAPÍTULO 2 – DO DEUS QUE SANGRA
Verso 1
Deus é virgem. Nunca transou com a dor humana. Nunca foi abandonado num ponto de ônibus.
Verso 2
Nunca teve que engolir o choro no meio do expediente. Nunca segurou o amor no osso da garganta pra não desmontar no meio da reunião.
Verso 3
Por isso, o homem criou um novo Deus. Um Deus que apanha e não revida. Que ama e é traído. Que se embriaga e ainda assim canta.
Verso 4
Esse Deus mora no umbigo da gente, e se encolhe toda vez que a gente mente pra não magoar alguém que já nos magoou.
Verso 5
Esse Deus fede. Tem hálito de cachaça e poesia. Tem cicatriz onde antes tinha fé.
Verso 6
E todo aquele que reza com vergonha, já o conheceu. Todo aquele que ama e não é amado, já viu sua face.
CAPÍTULO 3 – DO AMOR COMO EPIDEMIA
Verso 1
O amor é a doença mais bonita do inferno. Um vírus que entra pela íris e destrói a lógica dos dias.
Verso 2
Quem ama, tosse luz. Quem ama, tropeça em si mesmo e culpa o outro.
Verso 3
Amar é assinar um contrato onde o outro pode destruir tudo que você é; e ainda assim você segura a caneta.
Verso 4
E o amor verdadeiro não se escreve em papel, se escreve em nervo.
Verso 5
E os apaixonados? Esses são os profetas do improvável. Poetas de guarda-chuva em dia de sol.
CAPÍTULO 4 – DA SANTIDADE DO CAOS
Verso 1
Santo é o que falha e continua. Santo é o que tropeça e finge que faz parte da dança.
Verso 2
Santo é o que sangra com estilo. O que morre e reaparece com outro nome.
Verso 3
Santo é o que ama mesmo quando o outro não merece. Santo é o que sente mesmo sem plateia.
Verso 4
E o inferno? O inferno é só o céu sem poesia.
Verso 5
E Deus? Deus é um silêncio que observa. Uma lágrima na retina do tempo.
Verso 6
E você? Você é a resposta. Mesmo sem saber a pergunta.
CAPÍTULO 5 – DA REVELAÇÃO SUJA
Verso 1
Escrever é vomitar alma. E quem lê, limpa com os olhos.
Verso 2
Cada vírgula carrega um suspiro. Cada ponto final é uma tentativa de suicídio.
Verso 3
Não há salvação. Há palavra. E a palavra não salva, mas acende.
Verso 4
Acende o quê? O que for: um cigarro, um desejo, uma fuga, um caminho.
Verso 5
Por isso, todo poeta é um apóstolo da dor que ainda dança.
Verso 6
E todo poema é um evangelho não autorizado, escrito no verso do corpo.
CAPÍTULO 6 – DA MORTE COMO RESSURREIÇÃO
Verso 1
Morrer é quando o mundo para de doer. Viver é quando você continua mesmo assim.
Verso 2
A ressurreição é quando você ama de novo.
Verso 3
É quando você diz "nunca mais" e, mesmo assim, abre a porta.
Verso 4
É quando você reza sem fé, mas com saudade. Quando canta sem voz, mas com necessidade.
Verso 5
Ressuscitar é dar bom dia mesmo depois da tragédia. É escrever "eu" quando tudo em você queria escrever "nós".
EPÍLOGO – DO DEUS QUE ARDE EM TI
Verso 1
E no final, descobriu-se: Deus não estava no céu.
Verso 2
Deus era a brasa que sobrou depois da tua pior noite.
Verso 3
Era o abraço que você deu mesmo quebrado. Era o poema que escreveu mesmo com a mão trêmula.
Verso 4
Deus era a coragem de continuar.
Verso 5
E então, enfim, ardeu e nesse incêndio, nasceu.
RELICÁRIO DE UM AMOR-REVOADA
Minha alma dormia no bolso do teu riso,
como quem esquece o sol dentro de uma caixa de fósforos.
Você me beijava como se soprasse poeira em espelho velho,
e eu brilhava, mesmo tapeado.
Fui o altar que você envergou pra acender vela pra si mesma.
E me desejava com as pontas dos dedos,
mas anotava adeus com as costas da mão.
E eu, feito tinta em pele úmida,
escorria sem rastro, só cheiro de quase.
Jardineira de afetos enlatados,
cultivava ausências com lavanda de presença.
Fui tua escada de emergência no incêndio da tua solidão.
Fui bilhete de metrô perdido no fundo da tua bolsa.
Fui parêntese no teu grito.
E mesmo assim, te sonhava.
Como quem prevê uma tempestade vestida de ave.
Como quem repousa no colo de um abismo
e chama isso de afeto.
Mas agora,
catei meu íntimo dos pós.
Costurei meu vulto com o barro daquilo que sobrou.
E ando.
Mesmo torto, mesmo alucinado, ando.
Porque há algo em mim que não se ajoelha.
Algo em mim que grita metamorfose.
Algo em mim que aprende a romper-se sem pressa
só pra renascer mais denso.
Agora eu sou o todo.
Levei tudo.
Na última dobra da tua ausência,
encontrei meu nome escrito com tua letra:
rasurado, tremido, quase apagado.
Mas meu.
Ainda meu.
E eu sigo,
com meu isolamento debaixo do braço
como quem carrega um violão discordado
e canta assim mesmo
porque o silêncio sempre me escuta mais completo que você.
MEU AMOR NÃO TEM CÂMERA TRASEIRA
Meu amor chega descalço
com odor de ontem alagado
e um cigarro apagado entre os dedos
como quem esqueceu que é Deus
só pra me avisar que é humano.
Ele não toca campainha.
Encosta devagar no trinco do tempo
e entra em mim
sem pedir ordem,
mas com todos os afagos do mundo
de quem sabe que coração é louça antiga
que adora a rachadura mais do que a perfeição.
Meu amor assovia sossego,
e o silêncio, tímido, canta de volta.
Sabe a coreografia dos olhos fechados,
a temperatura certa da saudade,
o ponto exato onde o lance vira prece
e o gozo vira lágrima
que sorri por dentro.
Ele não conserta nada,
mas reconstrói sem alarde.
Prega o teto da confiança
com martelo de escuta.
Varre os juízos das falas tortas
sem culpar o destino.
E ainda sopra inspiração no pó.
Meu amor me carrega
sem precisar mover o corpo.
Faz ninho no caos do meu tronco,
se deita entre as urgências
e me oferece abrigo
sem querer ser herói.
Ele vende minha alegria sem lucro
e faz promoção da minha verdade.
Me encosta no agora
e me solta no sempre,
como quem sabe que amar
não é cárcere,
é voo consentido
com as vidraças escancaradas.
Meu amor é plug de sonho,
é ferida que não sangra,
é beijo que não espera aplauso.
Ele vem com a alma já suada,
mas ainda cheira a amizade.
E o mais brilhante:
ainda não aprendeu a mentir.
EU SOU O FILME, MAS ATO DE FORA
Tava aqui, sentado no cio do pensamento,
e me veio essa pergunta estúpida:
que caralhos eu acharia de mim?
Tipo...
se eu me visse como vejo meus amigos?
Se eu me olhasse da calçada?
Do outro lado do palco?
Se eu me visse do ponto de vista de quem me acha meio mala, meio mágico, meio mito de segunda-feira?
Talvez eu dissesse:
"Legal esse cara aí... fracassou bonito."
Talvez eu achasse que ele tá atuando.
Talvez eu percebesse o flagra.
O golpe.
O truque de mágica mal ensaiado.
E se eu abrisse a porta e me encontrasse?
O que eu veria?
Uma cidade abandonada?
Ou um estado em plena ditadura interna,
com o ego de general carismático e cruel?
Ou pior: um bairro sem nome,
uma rua vermelha de solidão,
onde a pequena comunidade das minhas emoções
vive em guerra civil,
sem líder,
sem mapa,
sem saída?
Sou só sol.
(Sussurro isso enquanto o piano me desenha em dó menor)
Sou só sol...
Talvez até a etiqueta da minha cueca me represente melhor do que a minha própria fala.
No fundo, sou o irmão gêmeo do infinito,
abandonado no berçário do caos,
sem nome,
sem alta.
Mas na minha casa toca música.
Toca tudo.
Até a insegurança —
que é pianista,
indecisa,
mas toca.
Sou só sol...
Tudo em mim toca.
Ou tudo toca em mim.
Esse refrão me entende mais do que qualquer terapeuta.
O resto da letra?
É o orgasmo múltiplo da angústia:
uma foda mal feita entre a esperança e a realidade.
Sou tão múltiplo quanto o eco de um grito
que ninguém quis ouvir.
Eu sou um filme.
Escrito e dirigido por mim.
Com atores mal ensaiados,
gritando de fome por mais texto,
enquanto eu só quero calar essa trupe
e mandar todo mundo embora
do meu set emocional.
Nesse filme, eu mesmo nem apareci ainda.
Tô aqui no camarim,
escrevendo a cena do final,
enquanto eles quebram tudo.
Sentimentos destruindo janelas que já nem existiam,
pixando meus porta-retratos com chifres
e slogans de abandono.
Revolução no meu corpo
e eu pagando o ingresso da própria sessão.
Pra me encontrar,
primeiro eu tenho que achar alguém que me ache,
e esse alguém precisa me avisar
que eu tô tentando me encontrar.
É isso.
Sou um filme que avisa o próprio protagonista
que ele precisa entrar no filme.
As emoções invadiram minha casa,
não bateram, não pediram licença.
Entraram.
Gritando.
Fumando.
Rindo da minha cara.
Uma gangue de sentimentos órfãos
jogando futebol com o meu fígado,
pichando a parede da minha paz,
fazendo bigode nos porta-retratos dos meus dias felizes.
E eu?
Ali.
Do lado de fora do palco.
O show é dela.
E eu sou o terreno não comprado,
o homem que esqueceu de reservar a si mesmo.
Escuto ela cantar dentro de mim,
e eu, fora de mim,
dancei.
“Pararara… rara rara…”
(Ela canta, e minha estrutura desaba como se os agudos fossem terremotos.)
A praça do sol virou praça da saudade.
Uma valsa tocada por instrumentos quebrados,
uma bossa nova engasgada de angústia,
um samba-canção de solidão embriagada.
E a raiva
esse cachorro bravo que mora no quintal do justo
rosna o tempo inteiro,
mas eu ainda molho o pão no manjericão da esperança.
Eu sou isso.
Um walkman com fita velha
tocando o mesmo refrão de dor romântica.
E mesmo assim, volto pra pista.
Com a fantasia do artista que escolheu errar bonito
ao invés de acertar mentindo.
Eu sei.
Minha vida deu certo.
Só me incomoda esse revezamento entre
“saber” e “desabar.”
Chega uma hora que você olha no espelho,
olha pro amor,
olha pra profissão,
e admite:
fracassei.
Mas tem um tipo de fracasso
que é a vitória do espírito sobre a mentira.
Não tem atalho.
Pra chegar no encontro com você mesmo
tem que encarar o bicho.
E ele é bravo.
É você, gritando com você,
com o dente na carne.
Com o amor pelas beiradas e a raiva no miolo.
Vai lutar contigo
pra ver se você ainda quer ser você.
E se vacilar,
ele te engole,
te mastiga,
te cospe no mesmo lugar
de onde você tentou sair.
Eu sou área invadida.
Acendi o cigarro no fogão
porque o isqueiro tava na minha mão e eu esqueci.
Essa é minha metáfora:
sou eu o tempo todo,
e mesmo assim me esqueço.
Tem um incêndio rolando dentro de mim,
mas o calor não chega no palácio do ego.
Mas a arte chega.
A palavra chega.
A caneta ainda dança.
E é por isso que ainda tô aqui.
Escrevendo a ponte entre mim e o que ainda pode existir.
O ANATOMISTA DO CAOS INTERNO
No profundo labirinto de um ser
não desses labirintos desenhados por arquitetos de alma limpa
mas uma espiral úmida escavada com os dentes
na carne do subconsciente
vive um homem, ou o esboço derretido dele,
pendurado por fios de ansiedade
como um fantoche cuspido por Deus e esquecido no porão do universo.
É um poço.
Mas não desses com água clara e desejo no fundo.
É um poço que sangra pétalas de aço,
que floresce espinhos sem pedir desculpa,
que engole os gritos
e os devolve em forma de labareda fria.
Nos olhos?
Não, não há luz.
Só um naufrágio com nome próprio.
Espelhos de sal grosso,
onde o reflexo urra em silêncio
e a tormenta é uma cama onde ele aprendeu a dormir com um sorriso.
No peito
um cavalo espancado tentando respirar.
Um órgão de carne fora de tom,
que pulsa como um tambor de guerra
num campo minado pela dúvida.
Cada batida é um berro nu.
Cada pausa, um grito com vergonha de ser som.
Pensamentos?
Não são ideias
são incêndios em forma de dança.
Rodopiam bêbados no palco da mente,
com botas pesadas e vestidos de gás.
Mariposas suicidas
tentando iluminar o breu com o próprio corpo.
As mãos trêmulas?
Partitura de um caos elegante.
Folhas no vendaval de tudo o que não se diz.
Ansiedade:
essa prostituta invisível que se deita entre os ossos,
beija tua serenidade e depois a sufoca com um travesseiro suado.
A respiração é um tropeço.
Um soluço intermitente entre viver e desistir.
O ar vira lâmina.
E o peito, um cofre sem chave.
Viver se torna um erro repetido em voz baixa.
Nos músculos,
os nervos ensaiam suicídios elegantes.
A tensão dança um tango mudo com o destino.
A ansiedade não toca a campainha
ela arromba.
Entra sem tirar os sapatos.
E ainda reclama da bagunça.
"Quem você pensa que é pra estar em paz?"
Ela sussurra, enquanto fuma o resto do teu fôlego.
Mas
e sempre há um mas,
um mas com cheiro de ressaca e gosto de esperança
no meio desse teatro de espasmos,
há uma faísca bêbada
que se recusa a morrer.
O homem, ainda que ajoelhado na beira do abismo,
procura ar entre os escombros do pensamento.
Toma goles de silêncio com gosto de ferrugem,
reaprende a existir com as mãos trêmulas
mas firmes o suficiente pra tocar o agora.
A ansiedade trepa com ele
não como algoz,
mas como espelho com sede de abraço.
E ele descobre:
ela não quer dominar,
ela quer ser escutada.
E a cura,
essa vadia que vive fugindo,
se aproxima quando ele pára de lutar
e começa a acolher
o monstro como parte.
Não domar.
Acolher.
E então
que o poeta,
esse animal de palavras com os dentes quebrados,
cante essa jornada suja, suada, incandescente:
a do homem que lambeu a própria ferida,
dançou com o próprio pânico,
e em vez de morrer como rascunho,
floresceu como fúria.
MANIFESTO DA FOME QUE NÃO SE CALA
Acho que você tá num desses capítulos clandestinos da vida,
onde o personagem acorda cansado de si
e tenta fugir do próprio roteiro
com uma fantasia de liberdade presa no zíper.
Você anda sonhando com outra vida.
Outra cama.
Outro lençol sem meu cheiro grudado nas paredes.
Quer um amor com manual de instrução,
sem os hematomas líricos que deixamos nas entrelinhas.
Quer um “te amo” que venha com nota fiscal,
sem o grito reciclado da nossa fúria crua.
Aí me abandona no escuro do teu teatro mental,
me perde como se perde um rim
e ainda culpa o bisturi.
No porão do teu subconsciente,
você monta uma briga com papel alumínio,
modela uma raiva com cheiro de coisa podre esquecida,
e me cospe acusações
como se eu fosse o aborto sentimental que você não teve coragem de parir.
Mas no fundo,
lá onde o silêncio veste salto alto e fuma pela alma,
você sabe.
Sabe que eu fui amigo.
Sabe do amor que te dei com os ossos estalando.
Das preces que gritei em idiomas que inventei no escuro do meu desespero
só pra proteger o nosso nome da ferrugem.
Sabe que esse teu teatro de punhal de plástico
não faz jus à arquitetura do que construímos.
Nosso amor era prédio torto, sim
mas tinha escada, tinha teto,
e janelas que davam vista pro único céu que ainda aceitava a gente.
Agora o relógio virou lâmina.
A página não vira: rasga.
O livro pega fogo sem fósforo.
E você tem que escolher.
Com os dentes.
Com a carne.
Com a alma pelada e sem analgésico.
Porque o "aí está mais" virou uma ambulância sem sirene,
e as brigas, meu bem,
são metástases emocionais.
Todo dia nasce um câncer novo entre nossas palavras.
E eu?
Eu não sou tua lixeira emocional gourmet.
Não sou espantalho pros teus delírios de autoajuda mal digerida.
Eu sou o que sangra bonito,
o que ama de joelhos ralados,
o que lê teus mapas com as mãos,
mesmo quando eles apontam direto pro abismo.
Mas se agora você só vê em mim um monstro,
um espelho rachado da tua culpa não lavada,
então me arranca.
Com estilo.
Com raiva.
Com vísceras.
Só não me mata de migalha.
Porque eu sou fome antiga,
sou revolução no estômago,
sou um banquete recusado,
e não aceito mais jantar na beirada
de um amor que virou talher sujo
numa mesa vazia.
Eu e a angústia
somos gêmeos abortados do mesmo grito.
Ela torce o corpo como um peixe fora d’água
numa sala de espelhos sujos,
e eu distorço a alma até ela caber num fósforo apagado
que tento acender no escuro da minha própria garganta.
Somos a febre que sonha,
a náusea vestida de ternura,
um naufrágio dentro de um relógio quebrado.
Carrego uma calma que range,
que late,
uma serenidade ensandecida
que dança com os ratos
na sarjeta das minhas incertezas.
Sou feito de cortes invisíveis
e olho com os olhos de quem já viu Deus falhar.
Tenho cicatriz no piscar.
Na íris.
Na memória do afeto.
Acreditei tanto no personagem
que agora ele me imita até quando respiro.
E a dor
ah, a dor já virou mobília emocional,
um abajur aceso no quarto da alma
que não apaga nem quando o amor dorme.
O apocalipse aqui chegou como uma peça ruim,
ensaio geral de um fim sem platéia.
Os deuses esqueceram suas falas,
e os santos desceram do altar pra beber e vomitar
nos bastidores da fé.
Ali,
todos estavam feridos
uns com os outros,
outros consigo,
alguns contra o silêncio.
O afeto era uma faca suja passada de mão em mão
e o amor, um chiclete mastigado preso no sapato da história.
Sentir é correr com uma bota frouxa
dentro de um pulmão alheio.
É escorregar no suor do desejo
e cair em câmera lenta dentro de si mesmo.
É um tropeço sem chão,
um voo com âncora,
um beijo que cospe.
Essa entidade que muitos aplaudem como sorte
é só um abutre elegante,
com plumas de promessa e bico de aço,
pousado sobre o cadáver ainda quente
da nossa carência.
Chamam de amor incondicional
essa fábula diluída que se conta no escuro
para acalmar o medo de morrer sozinho.
Mas não passa de um urso de pelúcia
recheado com dinamite emocional,
oferecido em mãos trêmulas
por aqueles que não suportam o próprio eco.
O amor, na maioria das vezes,
é um elevador sem freio
que sobe pelas veias de um
às custas do outro,
um jogo de espelhos tortos
onde a imagem que brilha
é sempre a que manipula melhor.
Há um tipo de amor
o mais venenoso
que vem disfarçado de ternura:
flores que exalam gás lacrimogêneo,
abraços com lâminas nas axilas,
beijos que anestesiam
antes de abrir ferida.
Os que caem nesse abraço ilusório,
esses que se jogam de olhos vendados
no precipício de “ser amado”,
não são românticos
são peões emocionais,
com corações pendurados como sacos de pancada
no ringue dos desejos alheios.
O amor não cura.
Ele expõe.
Ele revela.
Ele arranca o couro da fragilidade
e exibe como troféu.
A dor só ensina
quando entendemos que não é ela o monstro,
mas o reflexo dos jogos internos dos outros
que decidimos engolir como verdade.
Quem transforma o afeto do outro
em degrau de ascensão pessoal
está construindo uma escada
com ossos emprestados
e degraus de açúcar em dia de chuva.
Mas a verdadeira força,
aquela que vem de dentro,
nasce quando percebemos que
fomos nós que amarramos a coleira
no pescoço da ilusão,
e que fomos nós também
que chamamos isso de amor.
Ao sermos enganados por esse fantasma com perfume,
somos obrigados a olhar para dentro
e ver o espelho rachado da nossa esperança.
E ali, entre os cacos e a vergonha,
mora o músculo que não quebra:
a capacidade de resistir,
de se reerguer sem plateia,
de fazer da própria dor uma arquitetura viva.
Azar
azar de quem usa o amor do outro como trampolim.
Porque o verdadeiro amor,
esse que não precisa de aplauso,
nasce do casamento selvagem
entre a solidão e a dignidade.
Ele não implora reciprocidade,
não rasteja por validação
ele apenas é.
Como pedra.
Como relâmpago.
Como silêncio.
Quem engorda com a dor do outro
só incha de vazio.
E um dia explode,
cheio de nada.
No final,
é sempre o silêncio que fica.
Silêncio não como ausência,
mas como muralha.
Como templo onde o amor não entra com sapato sujo,
e onde a alma, finalmente,
respira sem coleira.
À arte, essa vadia cruel que a gente não larga,
Nem com nervos esgarçados,
não com mãos limpas.
O mundo rasga a gente por dentro,
e a gente remenda com palavras tortas,
mal costuradas,
manchadas de sangue e cerveja.
Não há inteiros,
nem restos, nem pedaços,
nem lixo brilhante.
Cada corte na pele vira verso.
não é musa.
Não é inspiração de revista.
é briga, luta de rua,
mas, ao mesmo tempo,
é também a luz que atravessa as frestas.
só desgraçados na linha de frente,
mas, no meio do caos,
a gente encontra beleza
não porque ela é óbvia,
mas porque ela precisa existir.
A gente desce nos becos,
onde o amor fede
e faz barulho,
e, mesmo assim, encontra coragens fugitivas.
Perdoa a dor, a despedida:
a gente faz casa. é o barro,
o poema, o tijolo.
no meio dos escombros.
E, quando olha pra cima,
o que ele constrói é algo bonito
não perfeito, mas humano.
a música que ninguém ouve,
a estrela perdida que brilha pra sombra.
Mas quando a gente vê, quando percebe,
é um milagre cotidiano.
é o chão podre
Há uma música que ninguém consegue parar de ouvir.
É o antídoto pro nada,
o que faz o ar ter gosto.
Não é sobre quem quer tudo ou quem não quer nada.
É sobre olhar a vida nos olhos e rir,
porque, no fundo, ela nunca soube o que poderia ser.
Arte.
Não vou largar.
Porque, no fundo,
mesmo na sujeira,
você é bonita pra caralho.
A gente segue,
sempre renascendo.
Até o último verso.
Até o último grilo.
E quando alguém perguntar o que a gente fez,
a gente vai berrar:
“Eu vivi, porra!
E olha só como isso ficou bonito.”
O Sonho Onde a Arte Era Deus
Adormeci num colchão manchado de vinho e pesadelos, e quando acordei, o tempo tinha cuspido minha alma em outra era. O relógio derreteu como um cubo de açúcar na boca de um fantasma e a realidade se dissolveu em um quadro inacabado. Não era o passado, nem o futuro. Era um agora infinito, um delírio esculpido em mármore e sangue seco, onde as catedrais eram feitas de tinta a óleo e as ruas respiravam versos escritos à faca nos muros.
O tempo não existia ali. Ou talvez existisse, mas apenas como pinceladas desordenadas em um mural divino que ninguém nunca terminaria. As pessoas dançavam sobre partituras invisíveis, os poetas cuspiam sílabas como balas de revólver e os pintores não usavam pincéis, mas as próprias mãos, misturando suor, saliva e cores nunca antes vistas.
Aqui, Deus não usava barba branca nem se escondia no céu. Deus era um grito de violino, um traço de carvão num esboço de mulher que nunca existiu, um verso inacabado sussurrado por um bêbado em uma viela estreita. Deus era a escultura inacabada que tremia nas mãos de um artista obcecado, condenado a criar sem jamais terminar.
Os templos não eram de pedra, mas de histórias. A fé não se dobrava a dogmas, mas se dissolvia em cada quadro exposto ao vento. As pessoas rezavam em frente a telas em branco, ajoelhavam-se em silêncio diante de livros não escritos, ofereciam sua pele para tatuagens que desenhariam seus destinos.
E eu andava, embriagado pelo impossível, com o coração mastigado pelo surreal. Em cada esquina, um sonhador rabiscava o cosmos com carvão sujo. Em cada beco, um escultor moldava o tempo com as unhas sangrando. A única lei era criar. O único pecado era esquecer que a arte era a respiração do universo.
Mas então acordei. O mundo voltou a ser esse amontoado de prazos, de agendas apodrecendo sobre mesas de escritório, de rostos sem cor e muros sem poesia. Deus se calou novamente, escondido atrás de cifras e relatórios, esperando que alguém voltasse a encontrá-lo.
E eu, agora condenado pela memória desse sonho, sigo escrevendo, pintando, sussurrando a arte em meio ao barulho do mundo, esperando que um dia, o tempo rompa outra vez, e eu volte a pisar naquele lugar onde o infinito era feito de tinta e a única religião era criar.
Soltei as pernas de um céu
e caí na garganta áspera do avesso,
para encarar um sol que vinha na contramão
um sol cego, violento,
mastigando sombras como um cão faminto.
A sete palmos do espaço que separa o voo da queda,
crescia um ser bruto,
rasgando asas num nascimento suicida,
sob aplausos sádicos da realidade.
Entrei nas costas tatuadas de um réu,
onde meu passado largou as mãos,
perdido em uma dança silenciosa
de esquecimentos agudos.
Ali, um jovem claro,
desmontado em cacos brilhantes,
sangrava pelas feridas feitas
pela fúria fria das facas da razão.
Entre os dentes amarelados do tempo,
a vida quebrava, lentamente,
os ossos frágeis da minha sina
mastigando meus medos
com prazer meticuloso,
transformando solidão em farinha fina
que escorria,
lenta, amarga,
pelos dedos do destino.
Às vezes a gente precisa se afastar de tudo.
Dos ruídos, das promessas, dos abraços que apertam errado, dos dias que passam sem cheiro.Não é fuga.É mergulho.Estou longe, eu sei.Mas é uma distância necessária, quase sagrada
é que, para ficar mais perto do que há de mais alto em mim,eu precisei dar alguns passos pra trás do mundo. Estou buscando o ápice.
Não aquele que brilham nas vitrines ou que os outros aplaudem,mas aquele que mora escondido na dobra mais silenciosa da minha alma.O ápice de ser quem eu vim pra ser.
Sinto saudade de ti, dessa tua forma tão única de entender o que nem sempre se explica.
Mas te levo comigo, como uma casa que não se fecha,como um abraço que não perde o cheiro,como uma lembrança que canta baixinho enquanto eu caminho.
Sonhei você à noite inteira.
E digo isso não como quem dorme,
mas como quem regurgita anjos pelas artérias, no murro da própria loucura,
e paga caro o ingresso do absurdo.
Com o peito aberto à navalha da madrugada, como um palhaço tempestuoso no circo do inconsciente que engole fogo só para engasgar-se em desejos secos.
Você planava, ave incendiária, pelas beiras neuróticas do meu pensamento,
lambendo as bordas convulsas do meu ser, espiando de longe a cidade esmagada do meu querer, metrópole devastada pela artilharia fina da tua ausência, luzes piscando, ofegantes,
respirando por aparelhos pra tentar provar que ainda existem.
Prédios curvados pelo vento da tua indiferença,
ruas salivando teus olhos transparente
que insistem, heroicamente, em se erguer
só para serem destruídas novamente.
Você não pousava, nem por piedade, nem por cansaço. Talvez porque pousar te obrigasse a reconhecer os mortos, ou talvez por achar que minha pele é só pista de emergência.
Pairava orgulhosa sobre minhas ruínas
com a elegância cruel das tragédias bonitas.
E eu, poeta miserável do cais dos sonhos sujos, vendo naus de memória naufragarem
no ácido das minhas contradições.
Assistia patético às espumas de sangue e melancolia lamberem meus pés descalços.
Recordava o tempo em que você era um pássaro manso morando confortável sobre meu ombro, feito um corvo domesticado,
sussurrando promessas que não pretendia cumprir.
Mas o amor, às vezes, você sabe, é guerra química deixa a alma intoxicada
e os pulmões sangrando silêncios que ninguém ouve.
E tuas mentiras, todas vestidas de gala,
dançavam can-can nas costelas da minha paisagem, me deixando sozinho, nu, numa cidade morta que teima em ouvir o rádio quebrado que ainda sintoniza você. E ainda assim meu espírito , clandestino,
Alcançava tua frequência proibida,
embriagada pela estática do impossível retorno.
Se a realidade desse um nó no pescoço das tuas decisões, e viesse rastejando
pelo arame farpado da reconciliação,
mesmo assim eu não reconheceria.
O rosto que virou estilhaço, e meu perdão é uma máscara vestindo uniforme
pra agradar turistas que visitam minhas cicatrizes.
Mas no sonho,
ah! No sonho o coração é meu soldado russo,
Doido e teimoso, criando táticas impossíveis. Esse cinema subversivo do coração,
vejo com olhos roubados do absurdo
aquilo que a razão condena.
Nele, você ainda me toca sem farsa,
a saudade é o ópio dos meus pulsos inquietos,
é heroína brilhante que acalma meu caos
enquanto eu me injeto em doses lentas de ilusão.
Agora, desperto e lúcido, as mãos tremem gestos com teu gosto, os pulsos bombeiam ressacas do não vivido.
Penso como seria tocar teu corpo novamente,
se você entendesse que nossa parceria
foi mais real que os sonhos limpos que você inventa.
Mas assisto tua fuga com lábios vermelhos,
distante, sempre mais distante,
da criatura que um dia admirei.
avisto, silencioso, tua queda,
cada vez mais borrada, irreconhecível,
como um retrato queimado de alguém que cuidei.
Agora você brinda com meus fantasmas,
ri entre meus inimigos, bebendo a liberdade falsa como um vinho envenenado servido em copo de cristal. Você goza em coquetéis com meus demônios, abraça iludida no salão de espelhos onde só tua sombra te acompanha, vestida de ti mesma, não percebe que a música
é tocada pelos ossos dos teus próprios equívocos.
Que pena que você seja o próprio labirinto, caminhando em círculos, sem perceber que é refém e seqüestradora do mesmo coração, do qual nunca sairá viva.
Ainda assim
por um estranho mistério do corpo, até em sonho, eu te sinto com um tesão kamikaze, por uma força doente que não explico, com um amor brutal, feito um monumento esquecido
onde ainda pisca uma única luz trêmula
imortalizando tua presença no último quarto intacto da carne do nosso tempo devastado.
Que ainda insiste em acender teu nome
no último instante intocado do que sobrou
da minha paz demolida


Ela não nasce, ela escapa. Não vem de fora, vem do útero do real; aquele lugar escuro, antes da ideia, antes do nome, onde o mundo ainda respira sem saber que é mundo. Ela não se apressa.Ela cava. Conversa com as raízes sem pedir licença, fala a língua dos fungos, dos silêncios, escuta o tempo como quem escuta o mar por dentro de uma concha revoltada.
A arte sabe: o tempo não é linha, é raiz.
E raiz cresce no invisível, no escuro, no lento,
naquilo que ninguém vê porque ainda não virou forma. É aceitar que há mais verdade no delírio de um olhar, do que em qualquer vaidade. Ela não nega o real ; ela o reinventa até que ele confesse sua própria poesia.
Ela não luta contra o tempo. O fantasia, o transfigura, o embriaga de eternidade
só para que possamos tocá-lo, por um segundo,
como se fosse possível acreditar.
Porque no fundo, ela não quer te mostrar o mundo. Ela quer te fazer lembrar que o mundo, se visto de olhos fechados, ainda pode ser teu
Lutamos
desde o primeiro choro
contra a estranheza de sermos um milagre defeituoso,
um erro de fábrica divino,
um acidente sagrado de diferenças.
Mas domesticamos essa diferença,
como quem corta a juba do leão para que ele se pareça com ovelhas.
Chamamos isso de normalidade:
o nome mais feio para o medo de ser raro.
O normal não é o contrário do estranho.
O normal é o adjetivo cansado do estranho.
É o estranho com medo de si mesmo.
É a singularidade sufocada com gravatas, doutrinas e likes.
A verdade?
Cada alma é uma impressão digital rasgada a sangue no universo.
Não existem duas dores idênticas,
nem dois olhares que veem a mesma lua.
E mesmo sabendo disso,
nos ferimos,
nos invejamos,
nos matamos
não por sermos diferentes,
mas por não suportarmos a liberdade brutal de sermos únicos.
Nietzsche gritou: “Torna-te quem tu és!”
Mas a humanidade tapou os ouvidos,
e preferiu se disfarçar de rebanho.
E Sartre respondeu: “O inferno são os outros”
mas esqueceu que o inferno começa quando a gente tenta ser o outro.
Nos ensinaram que ser igual é virtude,
e que a diferença é defeito.
Nos doparam com a vergonha de existir do nosso próprio jeito.
E todo erro da civilização brota dessa ignorância:
a negação da própria singularidade.
A única solução?
Não é reforma, não é religião, não é revolução armada.
É um gesto ancestral e atômico:
respeitar o milagre de cada existência.
Entender com o coração esfolado
que cada ser é uma exceção ambulante, uma obra-prima suja,
e que a vida nunca quis fazer clones,
mas tempestades únicas.
Enquanto houver guerra contra o que nos torna únicos,
haverá tristeza, rancor, vazio.
Quando a humanidade entender que “cada um é cada um”
não como slogan,
não como frase bonita,
mas como uma verdade encarnada até o osso
o céu que prometem depois da morte
será rasgado,
e nascerá aqui, agora,
na terra que pisamos.
Não há paraíso mais urgente que a aceitação do outro.
E não existe revolução mais bela
que a de sermos
finalmente
irrepetíveis sem culpa.
O que pulsa em mim não é carne, é uma estado de cores viajantes, uma corrente selvagem sem leito, uma deriva que não flui nem recua, mas se reconhece nas margens do silêncio, como um beijo preso nos dentes da eternidade.
Não está fuzilado no tempo, mas em um encanto que brota no fundo.
Não é vazio, mas de alguma matéria espessa do espírito,
como o eco de mil ecos de amores mordidos,
como o sopro de fantasmas que nunca existiram, mas ainda assim me respiram.
Eu vejo os devoradores do infinito, os trapezistas do impossível,os amantes do zero absoluto, mas não os sigo.
Eu quero as fissuras que o mundo esconde,
os pequenos abismos no asfalto, as cicatrizes do real que tremem quando tocadas pelo incerto. E o que sobra?
se alimentar do sonho ou da sombra, mas eu fico com a beleza que arde.
Um peso que não pesa, mas arranha o sentir de forma rara, uma fraqueza que fortalece e ressoa.
Não é exaustão, mas um mapa incompleto,
uma linha que não termina,uma espiral que se dobra sobre si mesma e me carrega na minha própria direção. Não é só o ser, mas o intervalo entre o partir e o desejo de estar, uma fome de algo que nunca teve nome, uma sede de alma que nunca foi líquida. O que me atravessa não é o tempo,
mas uma erosão. E eu existo assim:
como um grito trepado no vento,
como uma canção excitada que ignora o ritmo,
como uma lâmina que não corta,
mas ainda brilha.
A travessia da existência é como uma coreografia invisível, onde a mente febril e o corpo exausto se entrelaçam em uma sinfonia de paradoxos. A cada passo, Santos e fantasmas coexistem, e o que nos resta são cicatrizes profundas, memórias gravadas na carne pela indiferença do tempo. São essas cicatrizes que carregamos como mapas de traumas, cartas náuticas que nos guiam por mares de incertezas e hesitações.
A angústia, muitas vezes temida, possui uma espécie de estética própria. É através dela que confrontamos o abismo e, ao encarar esse vazio, nos descobrimos criadores da nossa própria ruína ou salvação. A dor, em sua essência, molda o indivíduo; ela é a lâmina que esculpe a alma, enquanto o desespero pode ser visto como uma oportunidade para a transcendência.
A lucidez, ao contrário do que se pensa, não traz paz. Ela é fria, cortante, como a lâmina de uma espada. Desnuda a realidade, sem os filtros que nossas ilusões nos oferecem. E, ainda assim, é precisamente nesse confronto nu e crú com a verdade que reside a nossa força. Encarar o abismo é afirmar que somos mais do que o medo que nos prende.
A angústia, essa contorcionista invisível que nos acompanha, é bela em sua verdade crua. Ela revela nossa vulnerabilidade, mas também a capacidade de nos reinventarmos. No fim, como bem nos lembra a filosofia, só através da aceitação da angústia é que encontramos a liberdade de sermos plenamente humanos, de criarmos sentido onde parece não haver nenhum. O fardo da existência, quando abraçado, se transforma em uma dança, dolorosa, sim, mas extraordinariamente bela.
O filho não é substância, não é propriedade,
não é uma repetição do mesmo, mas um acontecimento, uma dobra no tempo,
uma peripécia do amor que nos atravessa e nos transforma.
não é reflexo, não é extensão, é linha que se desenrola por si mesma, um campo de forças que se compõe e floresce. Criando o cheiro da vida para dentro.
É amar na vertigem de quem sabe que o amor é feito para voar.
é como um verso que escrevemos,
mas que o tempo reescreve sem nos consultar.
É um pedaço de nós que ousa ser outro,
que descobre, que se molda,
que se perde e se encontra sem nos pedir permissão. E nós, que o chamamos de nosso,
somos apenas guardiões de uma chama que não se apaga, mas que precisa soprar além da nossa própria fronteira.
O Amor que Vomita
Nosso amor é um incêndio numa fábrica de relógios,
engrenagens queimam em nossa febre,
o tempo range os dentes e se desfaz em fuligem.
Teus olhos são feridas abertas no céu,
cicatrizes que nunca fecham,
e quando me olha, um cão cospe astros
num beco imundo de lembranças abortadas.
Eu quis te tocar, mas minhas mãos se perderam
numa geometria de espectros e trilhos enferrujados.
Os trens partem, meu amor,
mas nunca chegam.
Eu quis te beijar, mas minha boca explodiu
numa tempestade de rostos esquecidos,
e agora sou só um eco bêbado
vagando pelos pulmões do universo.
Se um dia eu te encontrasse,
seríamos um erro na equação dos anjos,
uma rachadura na carne do cosmos,
um delírio químico na saliva das estrelas.
Nosso amor, meu amor,
é um crânio rachado na estrada,
um náufrago sem mar,
um beijo afogado em óleo diesel.
Não me procure, porque já nos perdemos
antes mesmo de existirmos.
Nosso amor é uma cidade engolida pelo vento,
um grito sem boca, um verso sem voz.
E se um dia for me esquecer,
que seja com a violência de uma explosão solar,
que seja como um buraco negro engolindo
tudo que nunca fomos.
Eu te amo, meu amor,
mas nosso amor vomita estrelas,
e não há corpo que suporte
tamanho absurdo.
O Tempo é o Filho Bastardo de Deus
O tempo é um parasita faminto roendo as bordas da realidade, mastigando nossa carne em câmera lenta enquanto fingimos que estamos no controle. Um verme invisível escorrendo pelas rachaduras da matéria, lambendo nossos ossos antes mesmo de morrermos. Um filho bastardo de Deus, criado no vácuo entre o nada e o nunca, um erro divino que continua respirando enquanto tudo o mais sufoca.
Tentamos domá-lo, enjaulá-lo em relógios de parede, prendê-lo em algoritmos, enfiá-lo em gráficos de produtividade como se ele fosse um cachorro sarnento a quem podemos dar ordens. Mas o tempo não obedece. Ele é um rei sem misericórdia, um assassino impessoal que nem sequer precisa levantar a lâmina. Ele apenas é. Um incêndio sem chamas, um Deus sem altar, um tubarão que nunca dorme, girando sempre, esperando o momento exato para nos engolir.
Mas que arrogantes nós somos. Que desespero patético o nosso! Corremos, envelhecemos, botamos botox, engolimos vitaminas, traçamos planos, fazemos promessas. Achamos que podemos trapaceá-lo. Mas ele ri de nossas dietas, cospe em nossas orações, mastiga nossos nomes como se fossem chicletes gastos. Nenhum império sobrevive a ele. Nenhuma estrela escapa de seu abraço. Cada rei, cada santo, cada maldito profeta se torna só um punhado de poeira boiando em sua garganta infinita.
Não há negociação. O tempo não aceita suborno, não faz acordos, não tem pressa porque ele é a própria pressa. Ele arranca os olhos dos vivos, apaga os rostos dos mortos, faz amor com a ferrugem, se deita com os destroços. Não importa o quanto tentemos segurá-lo, ele sempre escorre como óleo de motor queimado, como sangue jorrando de uma ferida que nunca fecha.
Respeitá-lo é aceitar que já estamos mortos antes mesmo de termos nascido. Que nossas memórias são grafites em muros que logo serão demolidos. Que não importa o quanto lutemos, estamos apenas girando, girando, girando dentro da ampulheta do universo, enquanto o tempo, esse filho ilegítimo e incansável de Deus, segue, impassível, mastigando tudo que acreditamos ser eterno.


Não se nasce humano, arranca-se a humanidade aos dentes.
Humano é virar essa coisa torta, distorcida, esmagada,
cansada até os ossos.
E a humanidade só nos vem quando entendemos
que não somos centro, mas periferia atravessada
por outros corpos,outras dores, outras madrugadas,
trem desgovernado cortando alma feito faca cega em pão duro.
Toda arte é pergunta que berra, é soluço existencial em banheiro imundo,entre paredes riscadas de desespero
em botecos com cheiro de tristeza.
Ser é estar só, é estar em muitos, é podre e santo na mesma medida, é carregar o peso insuportável da vida
sem entregar de vez à loucura, que espreita, sorrindo,
no canto escuro da mente.
Cinema independente é isso: um exército de corpos desajustados, uma marcha dos rejeitados, rumo à certeza mais óbvia: a arte não deve dar certo, não tem contrato com o sucesso; é pacto só com a honestidade selvagem, desesperada, de olhar fundo nos olhos do mundo
e arrancar dele mais que superfície.
Liberdade é sobra, é resto que escorre entre os dedos,
é o que fica depois de perder tudo, é impossível roubar
porque mora na coragem dos que insistem em ser
exatamente aquilo que não querem que sejamos.
Inspiração nasce aí: no caos, no desencanto, no silêncio pós-grito, nas mãos que tremem, sujas de sonhos, câmeras, canetas, emoções despedaçadas, corações pulsando jazz fora do compasso.
Arte,
afinal, é fracassar lindamente,
é insistir na poesia quando o mundo grita seus ruídos.
No êxtase translúcido
a pele do inverno sussurrava como um piano febril, cada poro era um som molhado na boca da tarde
calejada, suada, maliciosa
aguardando, com os olhos semiabertos, o tal vendaval
como quem espera o beijo de um desastre.
E o mundo, descalço,
com os calcanhares rachados de memória,
caminhava sobre cacos de nuvens.
Os pardais, pequenos profetas sujos,
mergulhavam seus bicos na poça púrpura do desejo,
lambuzando-se do veneno com a volúpia
de quem nunca soube o nome da culpa.
Tudo ardia em tons de ouro sujo,
como uma ferida embriagada,
tocando o fim do dia em espasmos
de um poema que nunca quis ser escrito.
Viver é de vez em quando
De vez em quando sonhar com um choro que vai desatar o chão
aqui dentro,
só eu, o silêncio,
e o barulho do tempo
um tipo de loucura permitida,
com moldura.
e assim a noite começa,
devagar, como quem sabe
que ainda vai doer.
batendo de leve na porta do ateliê, com aquele bafo de tinta e tédio queimado. caladas como putas arrependidas
O agora é um animal suado,
correndo descalço dentro do peito.
Morde, lambe, rasga, abraça.
com o coração do avesso
e a boca suja de céu
Lutamos:desde o primeiro choro.
contra a estranheza de sermos um milagre defeituoso, um erro de fábrica divino,
um acidente sagrado de diferenças.
Mas domesticamos essa diferença,
como quem corta a juba do leão para que ele se pareça com ovelhas.Chamamos isso de normalidade:o nome mais feio para o medo de ser raro.
O normal não é o contrário do estranho.
O normal é o adjetivo cansado do estranho.
É o estranho com medo de si mesmo.
É a singularidade sufocada com gravatas, doutrinas e likes.
A verdade?
Cada alma é uma impressão digital rasgada a sangue no universo.
Não existem duas dores idênticas,
nem dois olhares que veem a mesma lua.
E mesmo sabendo disso,
nos ferimos,
nos invejamos,
nos matamos
não por sermos diferentes,
mas por não suportarmos a liberdade brutal de sermos únicos.
Nos ensinaram que ser igual é virtude,
e que a diferença é defeito.
Nos doparam com a vergonha de existir do nosso próprio jeito.
E todo erro da civilização brota dessa ignorância:
a negação da própria singularidade.
A única solução?
Não é reforma, não é religião, não é revolução armada.
É um gesto ancestral e atômico:
respeitar o milagre de cada existência.
Entender?com o coração esfolado,;que cada ser é uma exceção ambulante, uma obra-prima suja, e que a vida nunca quis fazer clones, mas tempestades únicas.
Enquanto houver guerra contra o que nos torna únicos, haverá tristeza, rancor, vazio.
Quando a humanidade entender que “cada um é cada um”
não como slogan,
não como frase bonita,
mas como uma verdade encarnada até o osso
o céu que prometem depois da morte
será rasgado,
e nascerá aqui, agora,
na terra que pisamos.
nNão há paraíso mais urgente que a aceitação do outro.
E não existe revolução mais bela
que a de sermos
finalmentee
irrepetíveis sem culpa.


Vc foi página viva
mas não qualquer página,
uma página feita de pele de satélite,
tecida com nervo de estrela morta,
onde cada poro era um ponto final
escrito por um polvo existencialista bêbado de lua. E eu?
Eu era um poeta sem caderno,
mas com um fígado cheio de tinta,
com os dedos sujos de urgência como quem cava túneis na própria garganta
pra gritar mais fundo. Te rabisquei na carne,
não por vaidade
mas porque tua pele era o único papel que suava. Suava versos. Suava besteiras .
Escrevi com a unha afiada pela ansiedade,
com o hálito de um deus maldito,
com a febre de quem beija palavras
até elas gemerem em francês antigo.
Teus ombros?Eram parênteses que flutuavam no espaço guardando uma galáxia que soluçava. Teus pulsos?
Eram reticências abertas onde o tempo escorregava com sapatilhas de vidro sujo.
Entre as costelas tuas, escondi bombas de amor radioativo, poemas que, se lidos, explodiriam em sinapses.
E deixei frases inacabadas pra quando o arrepio teu fosse canetae teu orgasmo a pontuação final.
Eu te escrevia,
não pra ser lido,
mas pra não virar míssil.
Pra não virar incêndio em biblioteca.
Cada verso em vc
era um meteoro com endereço,
uma tatuagem feita por corvos,
um grito travestido de orvalho:
“fica…”
Vc foi minha página em branco num planeta apagado.
Foi o papel que sangrava junto
feito útero de universo prematuro.
Foste o livro que eu nunca terminei
porque toda vez que tentava fechar,
ele abria a boca e me mordia.
Eu fui o erro de ortografia
escrito por um cavalo em transe,
rabiscado com tinta de pesadelo,
mas que vc lia toda madrugada
como se fosse tua oração sem deus.
Hoje,carrega cicatrizes com cheiro de galáxia molhada,le eu ando por aí
com as mãos coçando como antenas de um inseto poeta, com vontade de te escrever
nem que seja com o sangue de um cometa,
com o esperma de uma baleia extinta, com a saliva de um relógio quebrado.
Porque certas palavras nascem da carne
como fungos sagrados em noite de eclipse.
E vc, amiga, era minha metáfora mais viva,
mais insana, mais impossível.
Tu era minha página que respirava música.
Minha epiderme de poema, minha bíblia molhada esquecida num motel surrealista,
meu papel sagrado colado no osso do absurdo.
E se algum dia alguém perguntar onde escrevi meu melhor verso, eu vou abrir teu ombro esquerdo e mostrar a cicatriz onde o infinito dorme.


?
… é uma estrada reta demais pra quem nasceu com os joelhos tortos. Tentar entender o mundo com trena é como medir orgasmo com régua
o amor ri na curva, cospe no teu compasso e some de novo no breu da memória. A vaidade um cachorro viciado em voltar pra rua onde foi atropelado. A lógica grita:
TUDO TEM QUE FAZER SENTIDO! Mas o sentido, meu mano, é uma puta sem endereço fixo, que nunca atende o telefone e às vezes caga bem no meio do caminho.
É cavar com colher num chão de carne
e a carne, fede. Mas pede toque.
alfabetizado pela Razão.
Senhora de gravata apertada e boca seca,
que senta de perna cruzada em cima dos próprios afetos e manda beijo de longe pro caos, como quem teme mas deseja.
Ela olha a beleza e pede nota fiscal.
Ela calcula o abraço achando que o carinho vai estourar o limite.
Eu que só respiro fundo quando a lógica escorrega no próprio discurso.
Porque viver não deve ser só fazer certo,
O raciocínio me deu fórmulas, mas foi o coração, esse bicho sujo, lá quem me mostrou que algumas causas valem o incêndio.
E é por isso que eu escrevo:
pra ver se sobra algum abrigo onde a Razão possa dormir sem mandar em tudo,
e pra que o Caos
esse pichador de sinapses,
esse vagabundo genial
tenha onde deixar sua assinatura
antes de ser preso por vadiagem metafísica


URUBOÉTICA
Nada como um abismo depois do outro.
As manhãs não nascem; elas escorrem das rachaduras do ontem,
com cheiro de mofo emocional e verniz descascado de promessas.
Dentro de mim:
uma sala afundando em cimento sentimental,
as paredes berram com quadros que nunca existiram.
Eu decorei ruínas como se fossem lar.
Passei perfume na ferrugem e chamei de abraço.
Tem gente que a gente ama como quem afia faca com a língua.
Sangra sorrindo.
Sangra bonito.
E só depois percebe que era uma cirurgia sem anestesia.
E o amor? Um bisturi sujo de ego.
Você olha pra trás e vê:
não era gente, era mobília encostada.
Presença emprestada.
Afeto descartável com cheiro de contrato vencido.
Fiz amizade com espantalhos
eles balançavam no vento e eu achava que dançavam por mim.
Desenhei mural de ilusões com giz de orgulho.
Mas a chuva veio.
E o giz virou lama que escorreu pelas paredes do meu peito.
Chamei de “história” o que era só ensaio de abandono.
Me entreguei em HD enquanto me deletavam em tempo real.
E quando pararam de fingir…
foi aí que tudo começou a fazer sentido.
Agora vejo:
fui altar pra gente que só queria selfie.
Ofereci colcha pra quem dormia com outros corpos.
Distribuí sol pra quem só enxergava sombra.
E quando saí?
Ah, quando saí…
o vazio dançou com minha ausência
como se eu nunca tivesse habitado nada.
Mas tudo bem.
Tudo podre é fértil.
Até o lixo me ensinou filosofia:
a vaidade aduba a terra onde renasce o verdadeiro.
E eu renasci.
Com a boca suja de verdades indizíveis.
Com o coração costurado por cicatrizes que agora têm nome de rua,
e um endereço que não dou pra ninguém.
Não existe arrependimento.
Existe cicatriz.
E a cicatriz, meu amor, é o grafite que a dor deixou no osso.
Hoje, sou o poema que não coube no livro de ninguém.
Sou a página arrancada que virou grito de liberdade.
E pros que foram?
Desejo voo.
Mas que voem baixo.
Que voem torto.
Que voem nos esgotos celestiais onde urubus sonham com carniça de ego.
Porque enquanto eles voam atrás de restos,
eu danço nu no incêndio que eles deixaram,
e chamo isso de renascimento.


Não há saída
Você me dói como ferrugem em relógio parado, ponteiro teimando em girar contra a engrenagem desgastada dos meus ossos. Você é meu erro favorito, meu acidente mais puro. Uma colisão estelar sem testemunhas, sem seguro, só escombros magníficos em queda livre no silêncio absurdo do espaço íntimo entre o que sinto e o que nego sentir.
Eu já arranquei a pele tentando escapar, mas cada fuga é só um novo caminho de volta para o labirinto que somos. Não há saída. Você é o minotauro e a rosa selvagem; eu me perco na tua violência delicada, aceito ser vítima e jardineiro das tuas raízes que crescem sob meu peito, como veias de mármore, imóveis e eternas. Não há saída. O fim somos sempre nós dois, presos nesse looping insano de ir embora só pra descobrir que estamos ainda mais perto.
Eu queria dizer que é errado, mas é justamente nesse desvio, nesse erro de percurso que o mundo se torna mais perfeito. Você é a rachadura que deixa entrar a luz na minha sala escura; o veneno que me salva da mediocridade da vida segura. Nosso amor é feito de cimento fresco e cinzas de incêndios não apagados—estrutura frágil e absurda que resiste à gravidade, zombando da física, da lógica, da sanidade.
Não há mapa, nem manual pra essa catástrofe cotidiana que chamamos de encontro. Somos linhas paralelas que se recusaram ao destino óbvio de jamais se cruzar. E é nessa improbabilidade, nesse desatino, que encontro minha razão mais sincera, meu eu mais lúcido. Você é minha doença favorita, meu trauma preferido, a bala alojada no coração que não posso tirar sem deixar de existir.
Não há saída. Tudo que eu pensei em ser antes de você virou fumaça. Você chegou como um dilúvio inverso, inundando-me de desertos, queimando-me com águas secas e ondas incendiárias. E eu descobri que o caos tem ordem própria, que o erro é a mais honesta das verdades. Que você não é a cura nem a doença; você é a alquimia impossível que transforma chumbo em ouro apenas pelo prazer obscuro de provar que pode.
Não tem saída. O fim somos nós dois, repetidamente, estupidamente, extraordinariamente nós dois. O mundo termina onde começa o teu toque, e todas as respostas estão escritas nas perguntas que eu não ouso fazer. Amar você é o meu erro mais brilhante, minha falha essencial, a única certeza absoluta em meio a este universo feito exclusivamente de dúvidas.


Após o grito, um eco da vida no horizonte e, no estilhaçar dos receios,
a criatura se depara com as próprias entranhas, como quem escuta, de repente,
um tambor rompendo o mistério da solidão.
há um santo estranho na atmosfera da alma,
com uma lucidez que rasga o breu das certezas,
como se o abismo tivesse caninos amolados e, ainda assim, sorrisse para nós.
é nessa satisfação ardida que cabe a febre, a pulsação do inesperado,
um ingresso para a ultrapassagem que nenhum manual ensina.
as fraturas no espírito, o tabaco apagado na beira do amor,
as sandálias vazias confessando seus deslizes da caminhada
tudo sussurra sobre o que perdemos quando tememos morrer
antes de ter existido.
é preciso maravilhar-se com o caos, com respeito,
e arrancar dele o ânimo de quem se embaraça no fogo.
entre a última piscada e o primeiro raio de sol,
a fonte de luz se lembra dos sonhos que a memória tentou extinguir.
há cortes que conectam estradas, cicatrizes que se tornam pontes,
cortesias de uma alma em revolução.
sim, há um preço a pagar, mas a ousadia é o único trocado
que nos salva do engano.
por isso, afronte o pânico como quem encosta o ouvido
ao tórax do mundo, patenteando nele uma batida secreta.
ao cruzar os portões dessa mágoa, a essência se amplia,
o instante devora as algemas e o mortal aprende a navegar
sobre os cacos da própria história.
e, nesse galanteio de nitidez, todo deslize se torna semente,
toda queda se ergue em uma arquitetura de concreto íntimo.
é só então que os pensamentos despertam da hipnose,
calibrados pelo que resta de humano e selvagem
esse paladar de renascimento que se apaixona pelo fôlego
que nos faz existir.
pois nenhuma prisão deixa de ser prisão
só porque tem paredes bonitas.


Cheguei, mas não é meu corpo que toca São Paulo;
é o íntimo, esse que viaja nos intervalos do tempo, que retorna com a lei da gravidade da memória. O silêncio das fisionomias reverbera nas ruas, como um vasto e mudo oceano, onde a espuma dos meus pensamentos se quebra.
As lembranças, tão alagadas de significado, tornam-se danificadas, pois tudo que eu percorro, tudo que agora me raia, escapa àquelas emoções que se atrevem a raciocinar. O som, pendurado no ar, mora na sombra das coisas não contadas, e é através do silêncio que a cidade se revela.O que a língua não devora, os olhos percebem: o movimento da vida sem nome, o espírito das coisas que se arrastam invisíveis, mas presentes, entre cada passo que ofereço.
São Paulo, velha cara metade que, por anos, permaneceu em minha carência, agora se torna jovem. Ao olhar para ela, vejo não mais a cidade popular, mas uma terra onde tudo é inédito, onde cada esquina é uma carta nunca lida, onde cada prédio ereto é um monumento àquilo que me falta entender.
O horizonte parece alongado, inatingível como o amor que me foge, uma promessa sem forma, uma miragem que nunca se concretizada de algo maior do que a própria saudade.
O fogaréu que assisto nos olhos dos paulistanos, aceso pela rotina, pela pressa, pela eficácia do mundo que aqui pulsa, é o calor que incinera também dentro de mim.
Um vício que consome e transforma, que me liga e me molda, que me dilui e restaura.
E o ar, o ar de São Paulo é denso, quase gruda na pele! Ele não é apenas o que respiro, mas o que balanço, o que brilho. Ele não precisa ser aceito para ser sentido, como a poesia que gere, etérea, entre os animais. Ele me toca como uma mulher que não fala, que te espera no final do dia, mas não diz o que sente. Você sente, e isso basta.
Ele se desvela nas pequenas coisas, no suspiro de um mendigo ruído, na satisfação do cabelo laqueado da madame, na assombração de um vulto impaciente.
O pensamento da cidade, esse camarada que viaja mais rápido que a luz e que, ainda assim, não consegue alcançar o fim. Corre mais do que os carros na Marginal, mais do que a gente tentando encontrar um sentido para a vida. E ainda assim, ele não sabe onde está indo. Ele se perde em sua própria velocidade. A verdade nunca vem primeiro, sempre chega tarde, com o cheiro de café queimado e a sensação de que a vida não faz sentido. Eu pensei, pensei, e ainda não entendi nada. O olhar, esse fiel escudeiro da mente, falha com frequência, tornando-se cativo de suas próprias ilusões. O que assistimos não é o que é. O que acreditamos, muitas vezes, é um chute que nos criamos. O pensamento é leopardo, mas a verdade… a verdade é sempre mais lenta, mais profunda, mais calada.
Esse é pecado paulista? É a ignorância agasalhada de certeza? Ela nasce onde o amor não habita, onde o pouco-caso toma a forma de ferro e aço, onde o eclipse de compaixão envenena os corações. Ela se devora em tudo o que não sabemos e inflama na alma da nossa própria fragilidade. Esse desgosto delicado e transparente, que gasta por dentro, que morde e ainda assim nos inventa mais inteiros? Sampa não se pode batizar, apenas experimentar. Sua dor é a amostra grátis daquilo que não se vê, mas se sabe em cada poro.
A destruição aqui, porém, é um enigma, uma fé ignorada, um duende que nos persegue na rua vazia, na esquina parasita, à medida que o cimento avança, implacável. O estrago não é um término, é uma metamorfose, uma transformação que não podemos abraçar com as mãos, mas que, em algum momento, nos tocará de uma forma que não poderemos prosseguir.
E, enfim, a solidão… esse refúgio que muitos aqui receiam, mas que é, paradoxalmente, a fonte de maior beleza de cimento. Ela é o edifício do concreto ser, a avenida onde o âmago se revela, onde a alma se prevê sem os semblantes de pedra. No berro da avenida paulista, o ser se localiza em sua insanidade, estrondos, sem distrações. Na pressa do eterno, o instante que se expande, que se dissolve e que nunca se destrói.
A vida aqui, em seu bagaço constante, é o movimento de um infinito que não podemos desviar, mas que está em cada agitação, em cada respiração, em cada passo que damos nesta cidade, neste corpo, neste mundo.
Ela está em tudo, em cada gesto, em cada olhar embananado na multidão. Ela é sempre, e, ainda assim, jamais se revela completamente. Cheguei de novo. Mas quem é esse corpo que pisa São Paulo? Não sou eu, não sou mais eu. É o resto de mim, o pedaço que ficou pra contar história e nem sabe direito o que dizer. As esquinas têm odor de asfalto e bar, e talvez isso seja tudo o que eu consigo agora: sentir a cidade, sentir o segredo que ela espelha, com suas luzes piscando em lamento, com suas assombrações gritando sem voz. Eu não falo. Eu engulo os verbos, engulo a cidade inteira, tentando entender o que se esconde nas dobras desse matagal de argamassa. A calma é funda aqui. Ele ecoa nas vielas, no rosto de cada vagabundo, na ligeireza dos taxistas. A verdade não se diz, ela se observa. Porque o que não se diz, é o que fica.
A cidade não me reconhece e eu, bem, eu não a distingo mais. Era como um amante que você deixa na prateleira, até que um dia volta e encontra o cheiro do perfume. Cada esquina é um retrato estilhaçado de algo que eu já vi, mas não sei se vivi. A cidade parece nova e velha ao mesmo tempo, como se estivesse teimando em se reinventar, mas o tempo não deixa. O amor é assim, não é? Como essa fumaça das ruas, os olhos que queimam de cansaço, esse calor humano que não é humano, é suor, beijo e poluição. A mesma coisa que queima na pele dos paulistanos. Ela veste um terno surrado e sorri como se tudo estivesse bem. Porque a paixão, no fim, é o que a gente tem, é o que nos resta.
Essa cidade, com seus dentes afiados e seu coração esfumaçado, que não para de respirar. O fogo, o mesmo calor do asfalto que me queima os pés, o mesmo calor que arde dentro de mim, dentro de cada esquina suja, dentro de cada copo de cerveja ordinário. Cada chama é uma paixão não dita, cada cigarro aceso é uma promessa quebrada. São Paulo não apaga a chama, ela só a espalha. E é isso que ela faz: nos consome, nos masca, nos engole, mas ainda assim, nos deixa querendo mais.
E a saudade… essa velha dor, que se cola à epiderme como uma cicatriz que não cicatriza, essa dor que é mais transparente do que qualquer lágrima, mais sangrenta do que qualquer corpo ferido. Ela é um fio invisível que me conecta a um lugar que nunca mais poderei voltar. Ela é o vazio do que não aconteceu, do que não vai acontecer. São Paulo me faz sentir isso. Me faz sentir a saudade de algo que eu não sei o que é. Talvez daquilo que eu deixei em algum ponto no tempo, em algum ponto perdido entre o caos, a ausência e rua que não termina nunca.
E a vida em São Paulo. Eu vi a vida, eu respirei a vida e, em algum momento, soube que ela está em tudo. Está no trânsito, no lixo nas ruas, no cheiro do pão quente. Ela não é o que vemos, mas o que sentimos enquanto a cidade respira. A vida aqui é aquilo que se esconde atrás do caos, atrás do barulho, atrás da fuligem. Ela é o que a gente não entende, mas o que a gente é.


Contrato de Sangue
No porão onde os pensamentos apodrecem em jarros de vidro,
caminha um sonho— não um ser,
mas um eco com patas de caranguejo,
segurando na boca a cobrança que ninguém pediu para ouvir.
Ele fala, e as palavras escorrem como óleo queimado:
"A casa que você habita, esse labirinto chamado coração,
não é teu refúgio, mas um dublê estilhaçado
onde cada pulsação reflete tuas promessas abortadas.
O mofo? São os sussurros das palavras que não digeriu.
O teto que cede? A gravidade dos erros que mastigou.
Não há misericórdia nos gestos dessa criatura sem olhos,
apenas o som metálico de asas que não voam.
"As janelas, embaçadas pela tua covardia,
não deixam entrar a luz que espia lá fora,
e o jardim? Um cemitério onde as ilusões enterradas
brotam como dedos retorcidos.
A sombra acende um cigarro invisível, ou talvez um delírio,
e a fumaça se dissolve em vultos de pássaros
que nunca aprendem a migrar.
"Paga o preço da tua indiferença com silêncio,
e ainda tem a audácia de chamar isso de sobrevivência.
Olha ao redor, inquilino das ruínas,
e vê as rachaduras na tua carne de papel."
As paredes começam a ranger como cicatrizes famintas,
e o chão, coberto de ferrões, grita com vozes ancestrais.
"Deixa tudo cair, se quiser. Deixa que a poeira
engula o que resta de tua valentia morta.
Mas lembra: o preço de assistir ao próprio colapso
é mais do que pode pagar com teus lamentos aguados."
Por um instante, a sombra hesita
um desejo grotesco lambe entre suas garras.
"Não sou o monstro que pensa,
sou o zelador dos teus destroços.
Fecha as rachaduras com tuas unhas quebradas.
Planta algo nesse tombo
um êxtase ou uma tortura, não importa,
mas planta. Faz algo além de escapar."
E então, o sonho se dissolve num rastro de borracha apaixonada,
deixando um contrato escrito com tinta de impulso,
cada linha gozando como um amor desalmado,
cada cláusula flutuando no ar como música virgem de notas.
No fim, o coração não é lar nem templo.
É uma jaula oscilando no profundo,
um campo de trabalho onde os destroços da vida
disputam contra o vazio.
E o preço do descuido não é a morte,
mas o peso insuportável de não viver.


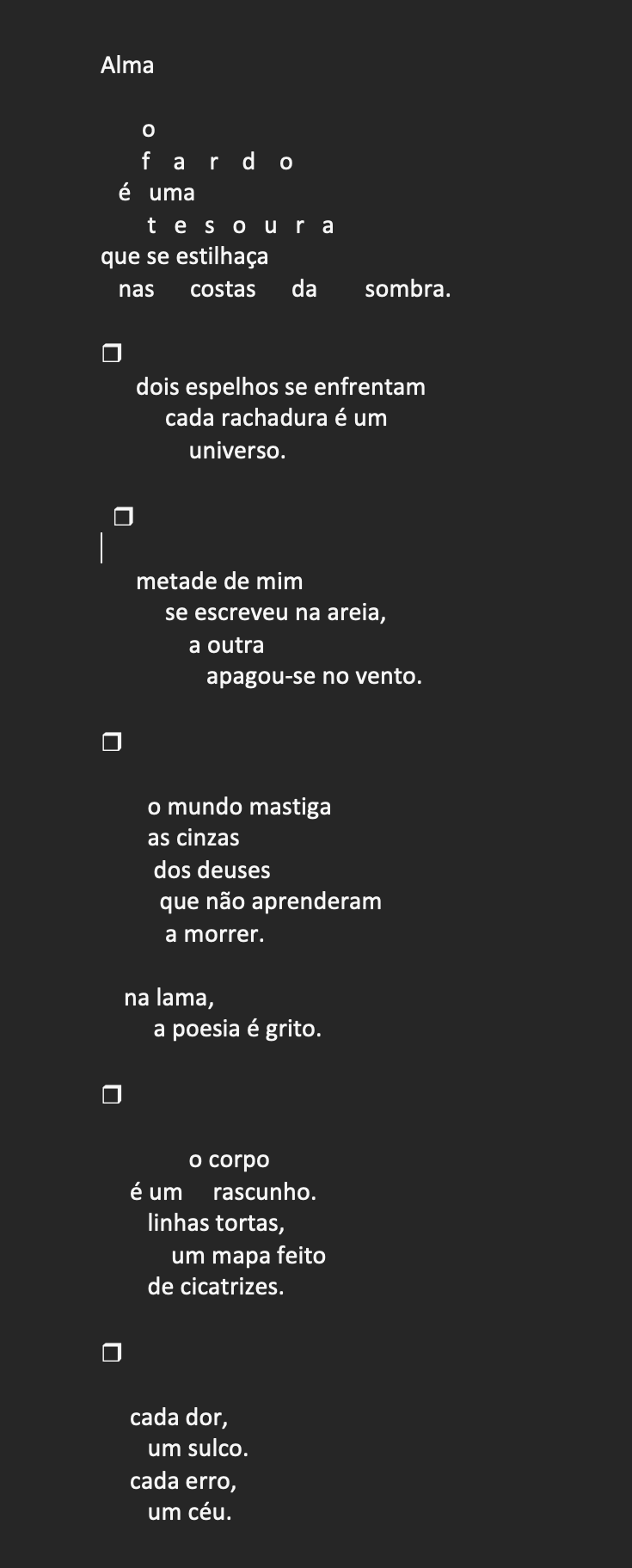
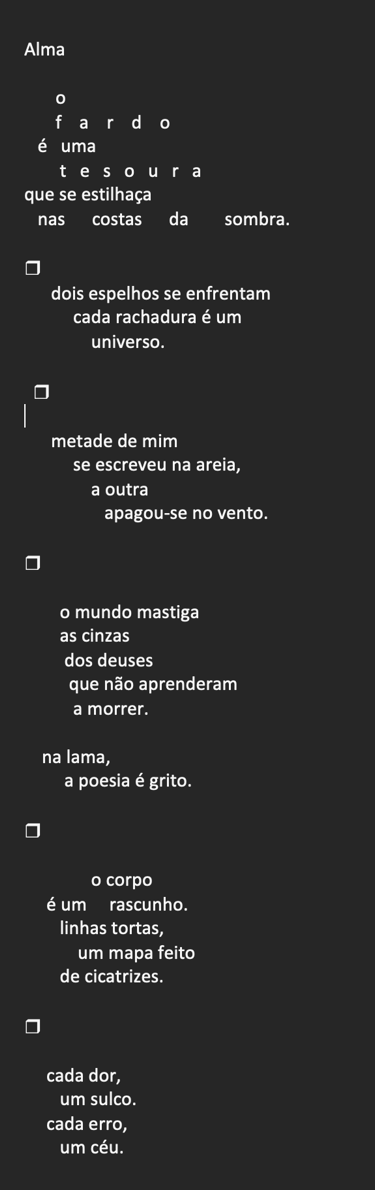
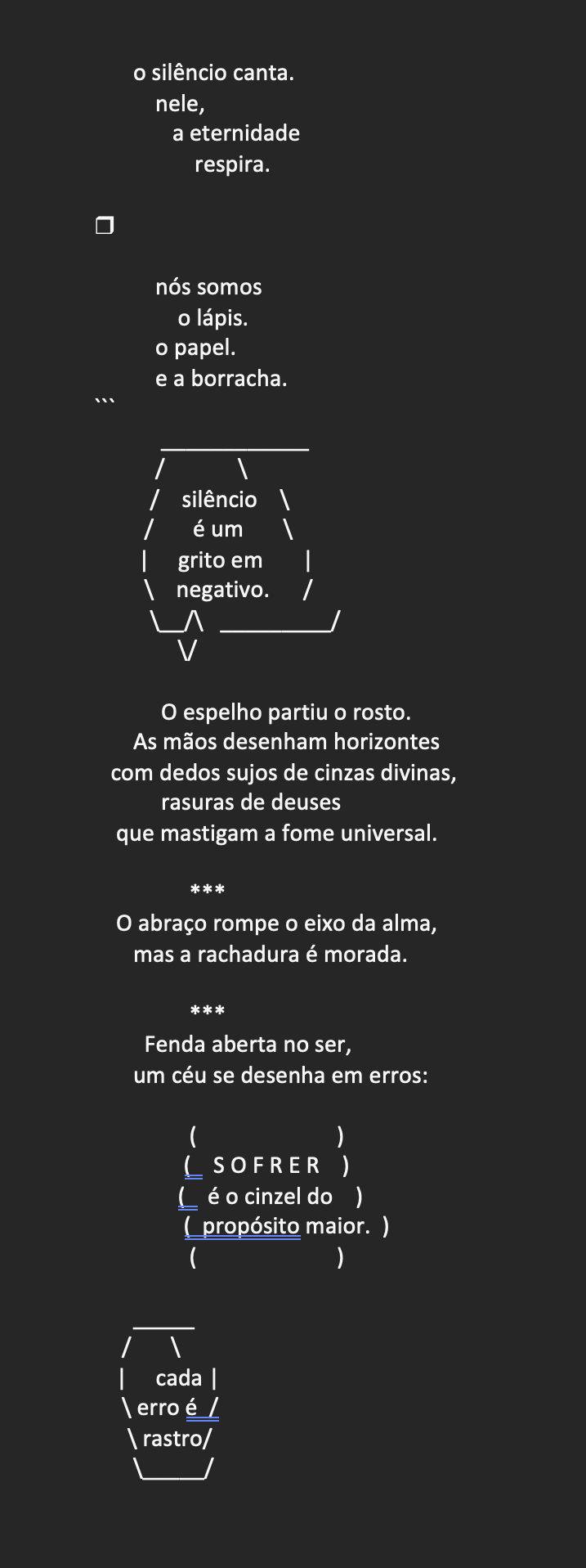
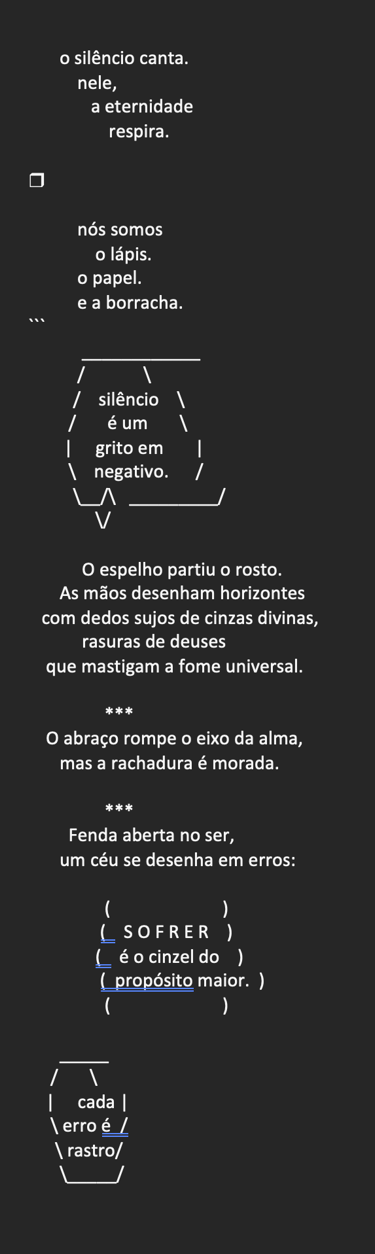
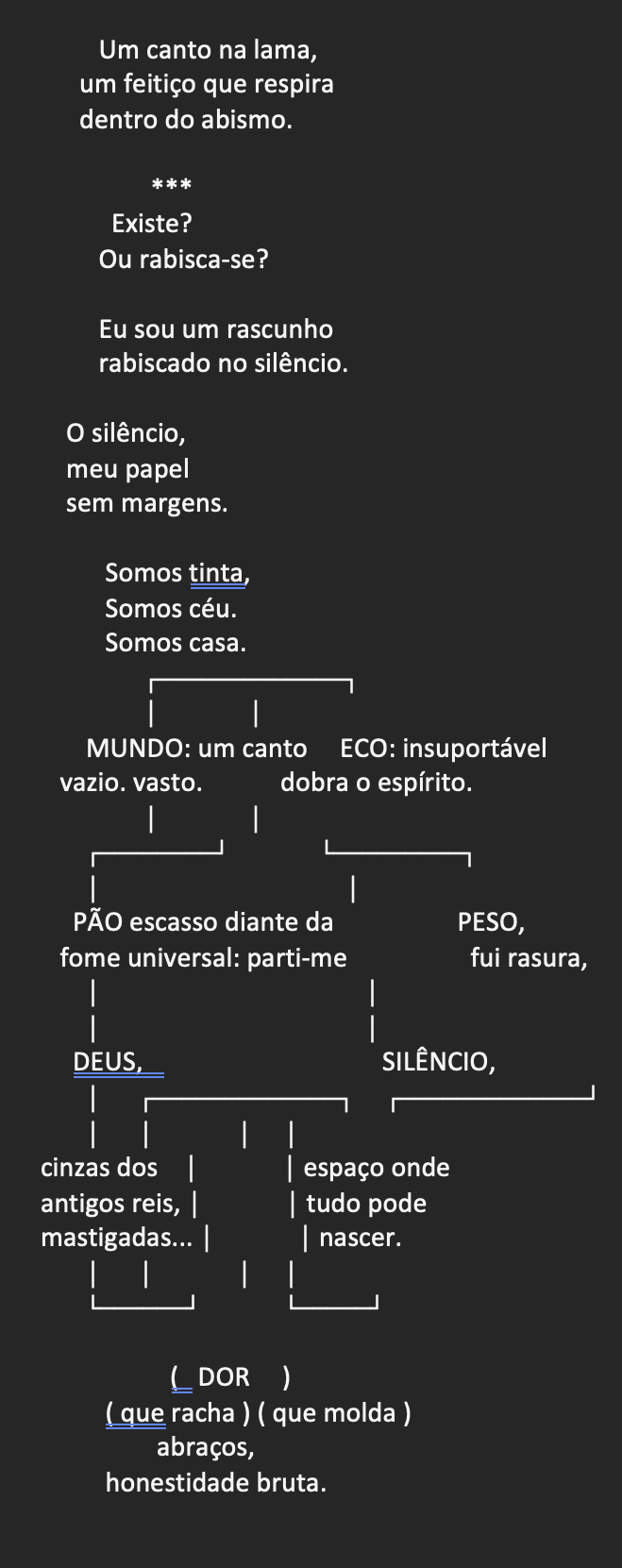
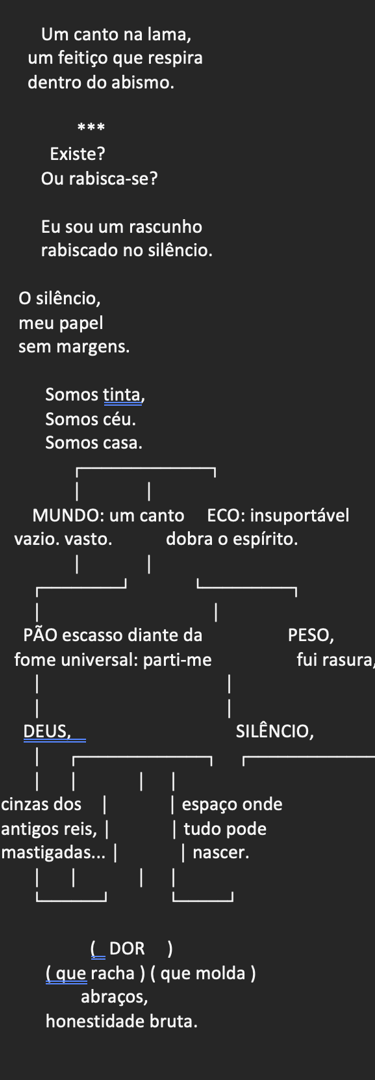
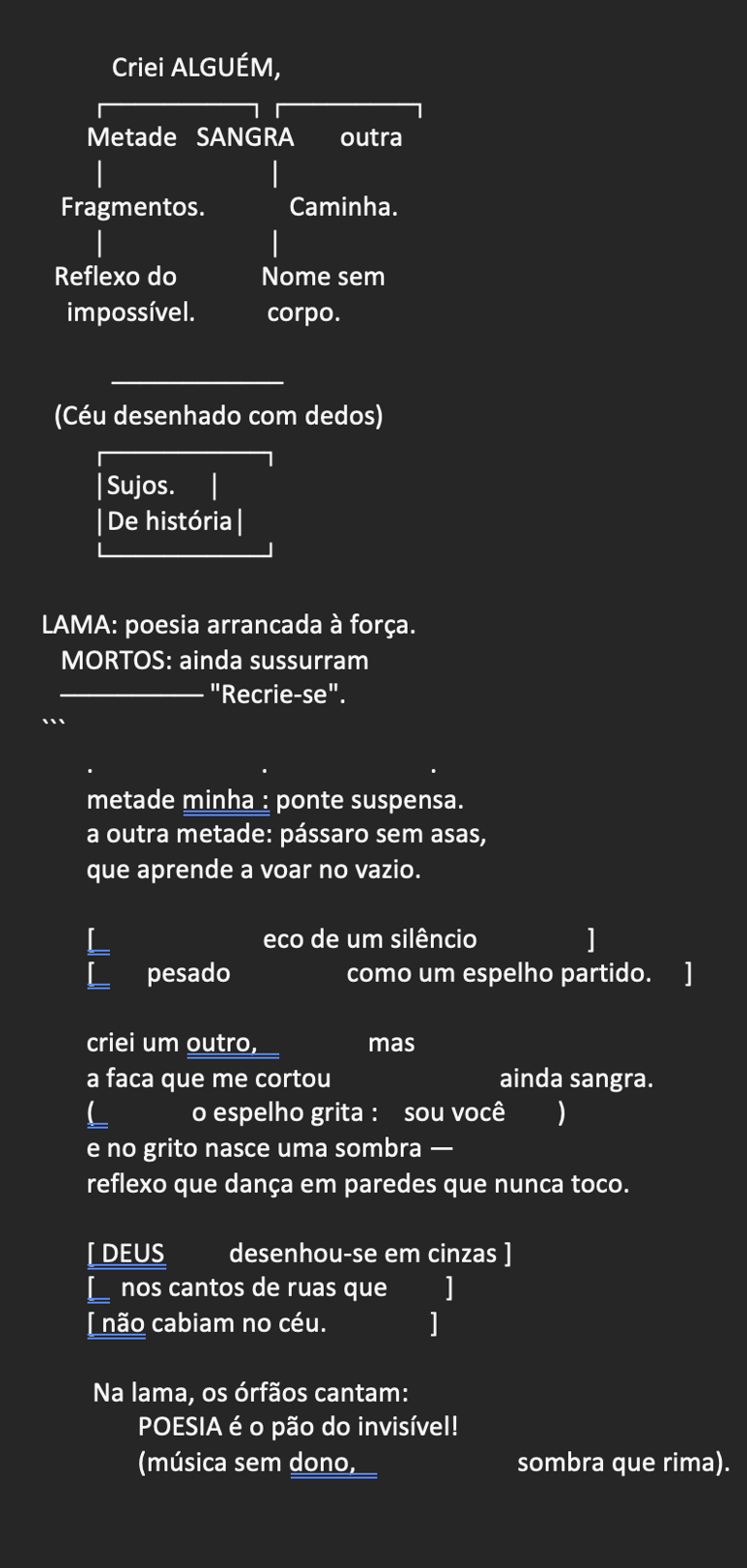
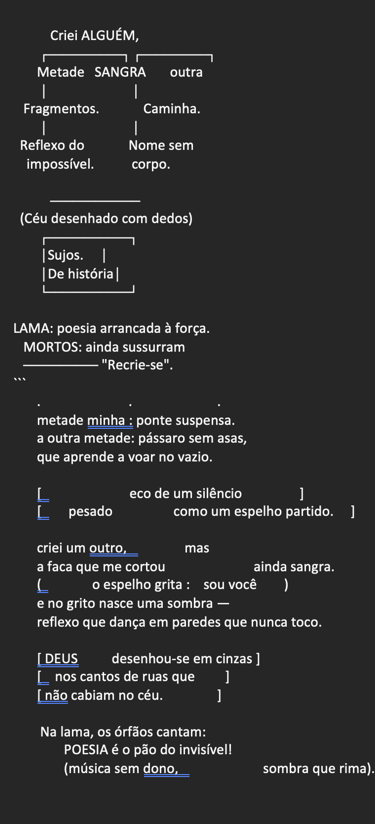
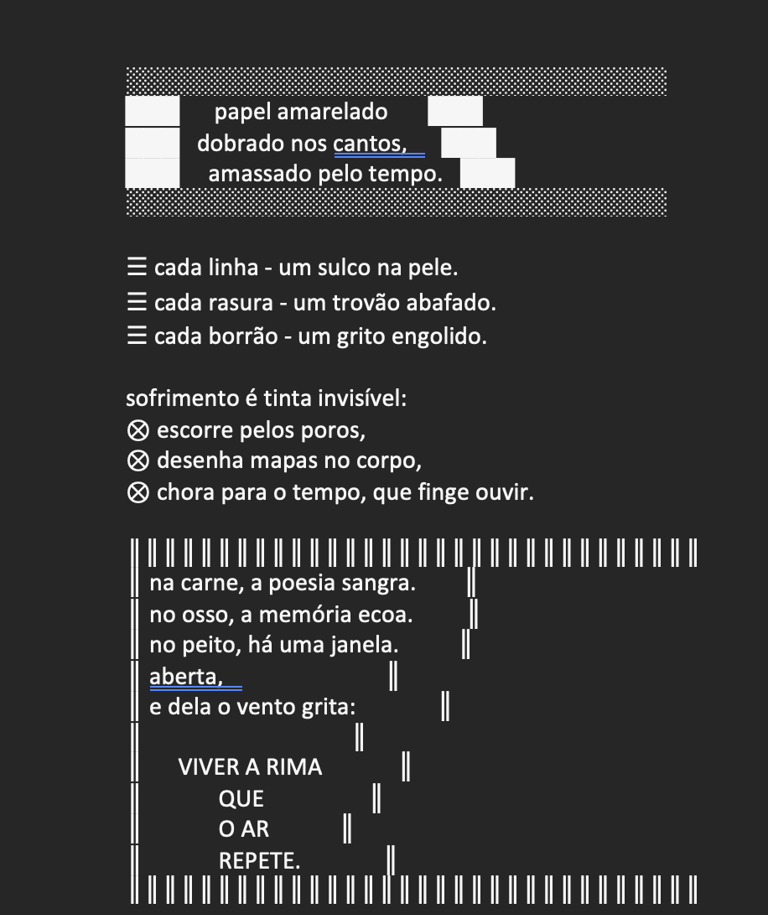
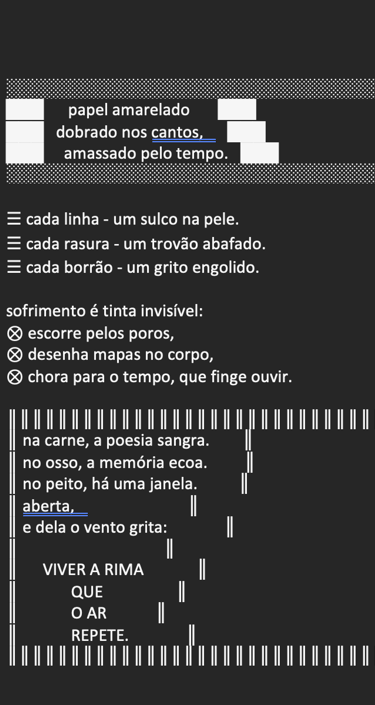


Pela cortina imóvel do meu banho em sombras,
ANGÚSTIA, forma nua, desliza,
Gestos como serpente que beija o próprio fim.
Seu corpo dança em caracol de água e dor,
Uma estranha procissão entre beleza e cicatriz.
Eu, em murmúrio, fito-me num espelho que não vejo,
Converso com tudo em mim, menos comigo.
O reflexo, guardião das verdades mal ditas,
Observa:
Ela é selvagem, você é cristal,
Questionando por que nasceu pedra.
ANGÚSTIA, sob a enxurrada, afaga sua história —
Cicatrizes de fogo, asas queimadas:
As marcas que outrora foram voo.
Ela caminha pela casa das memórias,
Cantando canções que parecem dizer
“Teu amor não sabe amar.”
Foi breve? pergunta-me o espelho.
Como as notas de uma melodia que escapam,
Segundos eternizados,
E eu, sem voz, sinto o ar mais denso,
Como se pronunciar fosse cair num abismo.
Diante das águas que purificam,
Ela oferece o rosto ao batismo do vapor,
Procurando redenção, leves vislumbres de paz.
O reflexo insiste:
Amar é perder-se e seguir perdido,
Como quem escolhe doer porque vale a vida,
Como quem entende que certos seres, imóveis,
Nos suspendem e nos tornam etéreos.
Eu me pergunto, sozinho:
Como achar palavras para ser acolhido,
Se mal suporto a parte dela que já vive em mim?
O enigma de sua presença — a voz,
O olhar,
O cheiro de mistério que atravessa paredes,
Tudo me desconcerta.
Talvez seja a mais bela entre as incógnitas,
Porque não precisa ser compreendida,
Somente sentida.
Imagino o universo qual guardanapo infinito,
Rasga os fios de bocas perdidas,
Cada linha, uma ideia, um fragmento de existir.
Nós, viajantes, puxamos desejos dispersos,
Sempre falhando em ver
A ação maior do Ser.
Mas nessa falha, nessa perpétua fronteira,
Está a fome de saber,
O motor oculto que nos faz humanos.
De súbito, ANGÚSTIA me olha através da cortina,
Seus olhos encontram os meus,
E pergunto-me se estou aqui ou lá.
Ela pronuncia:
Está aí?
E eu, inseguro, devolvo:
Sempre estive.
Então o reflexo se cala, dando espaço à coragem:
Solto as palavras guardadas
Em décadas de medo.
Digo que ela é enigma,
harmonia sem notas,
E que talvez o sentir seja mais vital
Que a ânsia de desvendar.
Ela sorri, trazendo dor e compreensão no mesmo gesto,
Como se o amor fosse também desistir de saber.
Cortina que se abre, vapor que escoa,
E a água termina.
Ela parte, deixando-me diante do espelho
Onde só minha imagem comum persiste.
E descubro, num lampejo, que a sabedoria
Talvez more na fronteira do não-saber,
E que a limitação do humano
É também o que nos faz espichar.
Subitamente, a cena mergulha em novo ato:
Um deserto irreal surge,
O horizonte retorcido pelo tesão,
E dentro do meu peito há uma “fome dos Sentimentos”.
Que se encaram
Num duelo de verdades e ilusões.
O espelho colossal flutua acima de dunas escuras,
Refletindo apenas distorções,
Enquanto o sol se desfaz em cores irresponsáveis.
ANGÚSTIA, queimada pelo brilho que julga ser verdade,
Se aproxima de um EU, que se admira soberano:
Nunca enxergou a claridade, apenas
A projeção do que julgava luz.
Tua pose te consome, mas é sombra travestida.
Eu? Carrego chagas que falam de um brilho sincero.
A razão retruca, sob a máscara da grandeza:
Eu fabrico a realidade, controlo as sombras,
Sou o centro que tudo une.
ANGÚSTIA ri em amargura:
Se fosse tão grande, por que teu reflexo
É a única coisa que te sustenta?
Sou eu, a memória do real,
E você é o operário de mentiras
Que desabam ao menor toque de autenticidade.
Trincam-se vidraças do horizonte,
Cada fissura é um rastro de vácuo.
O espelho começa a rachar,
Como se a própria ilusão não se sustentasse.
Razão recua, aterrorizada
Ao ver sua imagem se esfacelar.
ANGÚSTIA, em lampejo final, declara:
Você não é tudo, mas pensa ser.
E assim, sem o espelho,
Tua figura se torna pó.
No fim, apenas as possibilidades
Persistem no ar.
E eu, solitário,
Compreendo que a escuridão
É potência, abrigo sem fim.
Despedaça-se o reflexo
Num dilúvio de fragmentos reluzentes,
Estrelas cadentes em deserto abstrato.
E o EGO, sem luz própria,
Fenece num sussurro,
Como um sonho que acorda.
ANGÚSTIA, então, resta sozinha,
Feridas cintilando no limiar
Entre o real e o invisível.
No vazio que se alonga,
Ela sussurra,
E seu eco reverbera nas areias do nada:
Somos ondas,
Nascidas para colapsar
Em qualquer forma
Ou talvez em nenhuma.
E eu, que assisto a tudo,
Regresso ao escuro do banho sem água,
Sabendo que a verdadeira compreensão
Está em aceitar
Que viver é navegar
Entre véus e abismos,
E que o espelho se quebra
Para que algo em nós renasça.
Enquanto a última luz se apaga,
Paira no ar um presságio de constelações,
Um sutil relampejo de segredos.
E assim, em meio ao infinito
De um universo que não se explica,
Descubro que a grande poesia do ser
É nunca estar completo,
Mas insistir em querer testar a perfeição.


Sobre a noite em que hospedei o Sol no peito
Abrigado em um trecho raro do âmago, ali, bem no tutano do afeto, ninava a alma no exílio dos enganos.
Após cruzar o longo corredor das veias dos fantasmas da certeza, lá estava eu, sentado no crânio do que ousei crer até então.
Do porão do íntimo, sonegava o externo e, no pontiagudo inverno, partia ossos da razão.
Sem inferno, nem tampouco perto do empíreo: tão-somente “um meu e o reverso”,
debaixo do armazém da última aparência.
Esvaeci de todo azul e atravessei até minha coincidência imaterial.
Agarrado no rabo de um atalho, trepei no dorso de um poema-alarme;
desapareci em um porta-retrato, onde ventura e aflição se abraçavam
para caber na foto do coração da paz.
Onde o tudo se disfarça de anão, pescando elevação na maré do vácuo.
E eu? Ali, imóvel, mesmo estando aqui também, feito um dúbio além.
Da cozinha, sem fome de nome, escutei um convidado.
Esfolado, nem aguardou: escorregou ligeiro até mim,
como filho de uma lágrima com um cometa, invadindo-me pela fenda dos rebentos.
Era uma luz molhada, um lume ensopado no desalento.
Dei por mim e já secava as felpas de susto do sol.
Minguado astro — jamais o supus tão vacilante.
Graúdo talento de flama, pranteava em minha lareira a própria lama.
Tremia com a estreia de um sangue-frio escorrendo em sua massa,
fios de raios embebidos em um dilúvio de almas e fumaça.
Existir coça; com unhas a rasgar as costas, o sol se consumia.
Servi ao ardor um cálice candente e ele, sacudindo as melenas, resmungou:
> “Jovem inseto, os bons tempos retornaram?
> Seremos novamente a mesma fagulha de uma mesma explosão?
> Ou seguimos partidos em prepotentes estouros humanos?
> Sou apenas o sol, ou voltei a ser todos vocês?”
O silêncio, que assistia a tudo pela fresta de um grito, soluçou.
O destino, atento ao discurso do papa de luz, decifrava nossos prantos,
riscando a figura de um arco-íris abatido, estampado na moeda espacial.
A aura, na vidraça, ao notar que o gênio ardente duvidava da atmosfera,
ateou som numa gaita de fósseis de estações em extinção.
Sem um sol feliz, até o ar se curvava no bar.
A multidão de dores é transparente, porém indecente:
aponta a paz no céu qual astronauta sem nave.
Ver o sol lacrimejar é triste como ver o demônio
trocando estrelas por moscas.
Tudo segue frígido e veloz entre o vazio e eu.
Pleno, no instante do tombo, peço à sombra que agasalhe o sol.
Contudo, todo astro tem sua energia súbita;
mesmo sem estima, o sol, encachaçado, ascendeu acima do balcão.
Do gênio de lume, nasceu uma dança de entreolhares tropicais.
Não tolerava assuntos com fulguras forasteiras.
Depois de certas taças, já me contava que não se tocava havia anos-luz.
Labaredas pra cá, centelhas pra lá, aliciou todo seu assombro,
sem cinismo de viver na orbe como protagonista.
De fato, aquela estrela “down” passou a noitada me transformando:
“Todos nós, vagalume, somos apenas um céu de ilusões.
Todos nós, gentil verme, somos um pêlo encravado na virilha do impossível.
E a vida, homem, é um blefe do extraordinário infinito.”
Eu, que quase nunca existi, babava espantos naquele protesto.
Não via o sol como um rockstar de um sucesso só — o fogo.
Eu e o sábio amareleço assistimos, por vezes, ao trem de Satã dando ré no perdão,
toda vez que se descobria preso na janela multiplicada do artesanato de Deus.
O milagre sempre está um passo à frente do caos.
Por que, para os seres, tanta velocidade e desapego semeiam o mal?
O sol, cansado de a lua uivar aos mortais suas intimidades entre quatro naturezas,
largou-se no sofá, queimando um cigarro e tragando um maço de dilúvio após o outro.
Tentei me restaurar para jamais ver uma sina jogada na sarjeta.
Era impossível!
Aquela irrealidade de poeta reverberava legítima em meu espírito.
Após horas de trevas, o sol se lembrou do céu, mas o paraíso já estava ao avesso.
Era complexo pressentir o asco solar.
Imagine o tormento de uma cor que não dura!
Assim era a cobiça da solidão que eu e o astro intuímos na penumbra.
Nessas horas, o mundo mais se assemelha a um baile de berros,
enquanto a esfinge da existência explode no piscar do Onipotente.
Nos vimos no fundo de nossos ossos, até sangrar todo abandono.
Então veio a calma. Era ela que raiava nitidez!
Seu cachecol florescente aquecia o ruído que bancava meu peito.
Um tanto sábia demais para mim.
Tentamos ser amistosos.
Suspeito até que, no fim, nos tornamos parentes.
Se deixar, a serenidade passa horas calculando apenas suas próprias histórias
de lugares onde nunca estive, de paixões que, para mim, jamais nascerão.
Cansa um bocado!
Fala com as orelhas.
Prefiro sentidos que se embaralham em outros:
uma viagem de trem nos trilhos de um beijo,
a língua dando passos na pele do Etcétera.
Terapia em grupo de nervosos faria bem ao silêncio.
Dividir os próprios horrores reforça a coragem.
BUM!!! Sacode a luminária do meu ser.
Alguém bateu um pé apaixonado no peito da porta.
Que índole chegou íntegra até mim?
Finjo não ouvir nada que venha de fora.
Mas pode ser só um rio a vender correntezas de esperanças congeladas.
Seria um bom investimento brotar novidades nessa terra.
Vai que almas boas despertem famintas no próximo verão.
Pena que não tenho onde conservar tais inovações.
A saudade da infância já consumiu todo pólen da minha ousadia.
Ainda mais com este sol todo ferido, pitando guimbas de um céu cinzento.
Ele segue insano, batizando a lua de cadela.
Não faço mais perguntas nesse estado cáustico.
Rolou uma chacina no espaço e isso traumatizou o que não tem fim.
Todos os universos estão desempregados.
O Infinito quer vingança; o desespero se espalha no chão.
Caiu o preço do horizonte; houve fuga num zoológico de angústias.
O sol se exaure e apaga um pouco.
Sonha que sonha, chora por chorar incêndio.
Dorme, leve, sendo o próprio cobertor.
A aragem do crepúsculo relaxa as mazelas de um deus quente.
Ao alvorecer, o sol de ressaca se ergue mais confiante;
beija-me a testa espectral com ternura
e parte para carpir sorrisos de ETs nos asilos dos buracos negros
de todos os corações do mundo.
Guardo na algibeira do poeta a noite em que o sol se expandiu aqui,
numa camaradagem de fogueira,
deixando à mostra nossas coincidências tão humanas.


descobriu-se à beira de um precipício de ilusões.
Sentiu no sopro marinho o agravo do sal,
cortando-lhe a face como lâminas gentis e cruéis.
Ali, à janela de um quarto que outrora fora morada de ternuras,
percebeu quão vãs são as esperanças nutridas
por um coração que ofereceu mais do que recebeu.
Caramba, quanto lhe pesou a revelação tardia!
Os anos corridos, as promessas brandas,
tudo se fez teatro sem enredo,
cena muda num palco de espectros.
Se outrora lhe parecia que no brilho daquelas pupilas
mora(va) a essência de um porto seguro,
agora sabe quão raso era o reflexo,
fruto de um espelho enganador
que jamais lhe correspondeu.
Assim, num clarão que inunda a aurora,
pôs-se a juntar lembranças como quem empilha pedras
nas esquinas de uma rua esquecida.
A cidade, com seus arcos e promessas,
já não lhe entoa cantigas de chegada,
mas apenas o murmúrio de partidas necessárias.
Guarda no silêncio o adeus que não ousa pronunciar em voz alta,
pois o fim dispensa explicações
quando o amor falha em ser.
Não verte mais lágrimas, pois as reservas do pranto secaram
ao constatar que a ternura entregue não encontrou pouso.
O coração, outrora manso, percebeu-se vivente de uma fábula
onde o protagonista jamais existira.
Um vulto de asa partida, incapaz de alçar voos autênticos.
Assim o destino se revelou:
sonho e realidade engalfinhados,
mas sem fusão verdadeira.
E, então, a porta aberta.
O sol carioca alça-se sobre a calçada,
iluminando-lhe os ombros como testemunha da decisão.
Ela, sem bagagens aparentes,
leva apenas a certeza de que, dentro de si,
um universo desperta para o inédito.
Com passos cautelosos,
abandona a imagem de outrora,
entendendo que o segredo de existir
é reconhecer a transitoriedade de tudo.
Assim parte, como quem acorda de um sonho prolongado.
Em cada batida do peito, encontra a força
de saber que o abismo entre o que se foi e o que se será
não é maior do que a coragem de seguir.
E, no íntimo, entende que a maior forma de amar
é a de libertar-se do jugo de um afeto sem raiz,
convertendo dor em semente,
para que a flor do porvir, quem sabe,
resplenda num novo e verdadeiro horizonte.
sem raiz


Ele, que outrora depositara fé em azuis tão amenos,
Ele, no dia anterior, deixou de ser. Não havia mais qualquer resquício daquele que julgava conhecer, apenas um reflexo desafinado de um sonho comprimido em latas sem rótulo. Olhou para o inimigo imaginário e pediu perdão, antes de descobrir que a figura temível, na verdade, era o próprio rosto estampado na poeira de um tempo escoado. Deitou-se sobre um sopro de ventos vencidos, sentindo os minutos congelados entre as costelas, e percebeu que o passado não passava de um luxo pesado, herdado por uma mente ainda presa à cela da memória.
Foi na véspera que ele partiu. Reuniu as feridas numa mala antiga, como quem organiza obras sem valor para uma mostra que ninguém visitaria. Guardou na garagem o que sobrava do velho companheiro, aquele que chamava de “eu”, e vestiu um casaco de dentes, afiado o bastante para cortar a própria resistência. Seguiu rumo ao desconhecido. Pelos corredores internos, conversou com as saudades que ainda moravam nele. Explicou-lhes que já não havia susto capaz de ser poesia, que até o sopro da paixão se reduzira a um lamento inaudível.
As saudades choraram. Ele, não. O amor transformara-se em claridade invertida, iluminando só o vazio onde, antes, acreditava haver sentido. Foi preciso esfregar as costas do próprio umbigo, em ato grotesco, porém essencial, pois o ego é um altar que insiste em sacrificar o que poderíamos ter sido. Ao tentar correr por dois, ele entendeu, assinava sua derrota antes mesmo de chegar ao ponto de partida.
No dia seguinte, despertou descalço e faminto de descobertas. Finalmente, enxergou em si um amigo esquecido e se despediu dos temores com a ternura de quem se afasta de um amante antigo. Aboliu vontades ocas, viu a beleza cair de seu pedestal, descobrindo que ela jamais passara de um véu, enquanto a paz despontava como um solo neutro, onde as batalhas do querer se dissolviam em silêncio.
Então, voltou-se para as mentiras que o futuro teimava em soprar. Riu, porque sabia que a promessa do arco-íris termina onde começa: num baú sem tesouro, numa ilusão que nunca se tornaria verdadeira riqueza. E, por fim, banhou-se no presente, o instante nu que respira sem adornos, máscaras ou promessas.
Ele partiu de si próprio, disfarçando o adeus com um “sim”, um querer que o sustentara por tempo demais. Só então reconheceu que a vida, tal qual as histórias que cismam em não terminar, se fecha no momento em que desistimos de lutar contra o que somos. E, ao soltar as rédeas, ele por fim aprendeu a existir.
cela da memória.


Últimas Flores
Te amo de longe,
porque de perto tua beleza me desaba,
na palavra que não digo,
como vidro moído,
na saudade que balança sozinha uma árvore vazia.
feito animal meio perdido, meio fiel, com fome, sede e tesão.
como quem esqueceu o que o amor deveria ser,
que te cheira como a última droga na prateleira. como amante,
na calma e na explosão,
no instante em que o tempo para,
e no segundo em que ele corre feito um sorriso sem margens.
como um pássaro , sem moral, sem mistério, apenas asas e necessidade.
como quem não sabe onde guardar tanto fogo,
e por isso, te deixa escapar.
Tenho fome dos olhos que acendiam o mundo.
De longe, te amo. De longe, te guardo...
te invento.


...não nos deve nada
Quantos mistérios e quantos sinais picham os muros assustados da lucidez!!
Mas a melodia ordinária do razão arrasta de volta ao mesmo ponto de partida: ser imutável, incompleto e inevitável.
Desviar das instruções? Improvisar fora do ritmo?
Arrancar os adesivos do desassossego?
O desejo infiltra-se nas fissuras, como tinta que desafia a chuva ácida das ordens e do tempo, uma marca teimosa, uma cicatriz colorida que nunca seca.
Nas covas do pensamento, a covardia ergue fantasias de felicidades em concreto bruto.
Luzes de inseguranças piscam freneticamente, onde o cheiro do passado se mistura ao ar viciado do orgulho.
Cada detalhe do presente é um mosaico de sonhos suspensos, encruzilhadas onde nos encontramos e nos perdemos novamente, sem mapas, apenas a pulsação instintiva de espiritos rebeldes,
batidas que desafiam a ordem e clamam por transformação.
O desejo verdadeiro é uma equação impossível, a soma de todos os becos sem saída e pontes inacabadas.
É uma poesia estropiada, crua e inescapável, uma linguagem que apenas as inquietudes entendem.
Maior que qualquer ruptura, atravessa o físico, rasga o asfalto, encontra espaço nas entrelinhas do íntimo para seduzir a angústia. É o apetite de unir vidas, de transformar a distância em serpente e deixá-la levitar.
Mas a vida insiste em pintar linhas divisórias, enquanto a arte, em seu cio, geme por transgressão.
E mesmo assim, a coragem não precisa de espaço ou duração; a alma existe no vazio,
como um eclipse na solidão. Viver é apenas uma visão repentina, e a incerteza é a única forma de sermos reais. O infinito não nos deve nada, mas nós devemos todas insanidades ao amor.


fissuras
O que pulsa em mim não é carne, é uma estado de cores viajantes, uma corrente selvagem sem leito, uma deriva que não flui nem recua, mas se reconhece nas margens do silêncio, como um beijo preso nos dentes da eternidade.
Não está fuzilado no tempo, mas em um encanto que brota no fundo.
Não é vazio, mas de alguma matéria espessa do espírito,
como o eco de mil ecos de amores mordidos,
como o sopro de fantasmas que nunca existiram, mas ainda assim me respiram.
Eu vejo os devoradores do infinito, os trapezistas do impossível,os amantes do zero absoluto, mas não os sigo.
Eu quero as fissuras que o mundo esconde,
os pequenos abismos no asfalto, as cicatrizes do real que tremem quando tocadas pelo incerto. E o que sobra?
se alimentar do sonho ou da sombra, mas eu fico com a beleza que arde.
Um peso que não pesa, mas arranha o sentir de forma rara, uma fraqueza que fortalece e ressoa.
Não é exaustão, mas um mapa incompleto,
uma linha que não termina,uma espiral que se dobra sobre si mesma e me carrega na minha própria direção. Não é só o ser, mas o intervalo entre o partir e o desejo de estar, uma fome de algo que nunca teve nome, uma sede de alma que nunca foi líquida. O que me atravessa não é o tempo,
mas uma erosão. E eu existo assim:
como um grito trepado no vento,
como uma canção excitada que ignora o ritmo,
como uma lâmina que não corta,
mas ainda brilha.


suor e vaidade
O peso do mundo não cabe nas costas de um só homem, mas desce pelos becos da cidade, ralos entupidos de promessas mortas, trilhos de olhares onde não se chega mais na hora e o relógio continua rosnando os segundos.
O sorriso tortos de quem vende o tempo barato
e grita em silêncio no espelho rachado das manhãs.
Sonhos esmagados sob saltos altos de pressa e arrependimento, contratos assinados com a alma, mas escritos em tinta que não deixa paz.
Você, sábio de olhos cansados, abraça um enigma que não quer ser resolvido, segura com unhas sujas um pedaço de infância como quem guarda um fósforo molhado no meio da tempestade.
Renuncia. Não há bandeira na trincheira do passado.
Os momentos construídos com suor e vaidade
são apenas ruínas que o tempo corrói, porque o tempo é ácido, não é escultor.
Ele não molda mármore; ele dissolve carne, até os ossos serem pó que ninguém lembra.
Não tema o sol. Ele só faz o que foi feito pra fazer:
seca a lama das enchentes, frita pombas nas calçadas como se fossem sonhos vencidos, deixa as ruas ainda mais reais.
Há poesia nos limites.
Há grandeza em aceitar que somos feitos de restos –
restos de dias que não vivemos, de amores que não salvamos, de palavras que ficaram trancadas na garganta e agora são só ruído.
É aceitar que, no final, só haverá silêncio.
E é nesse silêncio que mora a verdade que arde e rasga: o mundo é sujo, mas a lama também brilha quando a luz certa a encontra.
E no meio desse caos humano, se escolhe a liberdade, não para mudar o mundo, mas para que o mundo não te mude por inteiro.


o vazio na linha de frente
À arte, essa vadia cruel que a gente não larga, Nem com nervos esgarçados,
não com mãos limpas.
O mundo rasga por dentro,
e a gente remenda com palavras tortas,
mal costuradas,
manchadas de sangue e cerveja.
Não há inteiros,
nem restos, nem pedaços,
nem lixo brilhante..
não é musa.
é briga, luta de rua,
mas, ao mesmo tempo,
é também a luz que atravessa as frestas.
só o vazio na linha de frente,
mas, no meio do caos,
a gente encontra beleza —
não porque ela é óbvia,
mas porque ela precisa existir.
A gente desce nos becos,
onde o amor arde
e faz barulho,
e, mesmo assim, encontra coragens fugitivas.
Perdoa a dor, a despedida:
a gente faz casa. é o barro,
o poema, o tijolo.
no meio dos escombros.
E, quando olha pra cima,
o que ela constrói é algo belo —
não perfeito, mas humano.
a música que ninguém ouve,
a estrela perdida que brilha pra sombra.
Mas quando a gente vê, quando percebe,
é um milagre cotidiano.
é o chão podre
Há uma música que ninguém consegue parar de ouvir.
É o antídoto pro nada,
o que faz o ar ter gosto.
Não é sobre quem quer tudo ou quem não quer nada.
É sobre olhar a vida nos olhos e rir,
porque, no fundo, ela nunca soube o que poderia ser.
Arte,
mesmo na sujeira,
você é linda pra caralho.
A gente segue,
sempre renascendo.
Até o último verso.
Até o último grilo.
E quando alguém perguntar o que a gente fez,
a gente vai berrar:
“Eu vivi, porra!
E olha só como isso ficou bonito.”


POUCO
Pinta meu coração pelas unhas, desejo insano,
Sabe que o controle nasce nas extremidades,
Onde o corpo toca o vazio, oceano
De garras cravadas em outras vontades.
Arranha o tempo como um disco riscado,
Memórias em loop, sem escapatória,
Se Instala como um cirurgião afiado,
Sem bisturi, só presença ilusória.
Não conhece limites, é o mestre e a sala,
Conduz a vida com segredos do além,
Rouba a cena, faz a plateia que cala
Esquecer-se de si, não lembrar mais de quem.
Manipulador de ritmos e de passos,
Quebra-nos de dentro pra fora, sem aviso,
Dança perigosa de apertados laços,
Onde o bailarino perde o juízo.
E que doce é perder-se em teu caminho,
Deixar-se levar por tua corrente,
Até a esperança foge do seu ninho,
Achando encontrar um agora permanente.
Traiçoeiro herdeiro do fogo ancestral,
Cospe na face da razão que te ama,
Transformas tudo em febre febril e mortal,
Um fogo que não aquece, só inflama.
Sapateei na face dura do “nunca”,
Descobri que a eternidade é ilusão,
Truque barato que a mente fecunda,
Mãos de Midas que trazem maldição.
Doença de vontades, amnésia solitária,
Esquecemos quem somos, o que buscamos,
Rei tirano de promessa falsitária,
Paraísos que jamais alcançamos.
Alquimista que não quer ouro nem prata,
Transmuta dor em prazer momentâneo,
Mergulhamos de cabeça na sonata,
Sem saber que o fim é um erro instantâneo.
Se enche nas fendas da alma partida,
Criando vícios de prazeres sentidos,
A cada toque, mais uma parte perdida,
E agradecemos por nos sentirmos vivos.
Desejo, ilusão definitiva, droga perfeita,
Química do prazer que nos arma e desarma,
Promete tudo, mas nada nos aceita,
No fim, é uma miragem que nunca se alcança.


Fera
E nós sentimos... sentimos o peso de cada segundo, de cada ausência, de cada vazio que se instala em nossas vidas como uma tempestade. Sentimos porque somos selvagens, porque fomos feitos para ser indomáveis.
ilusão
Lá fora, os ventos mudam, como se o próprio universo estivesse prestes a virar a página. As estrelas brilham com uma luz mais fraca, como se sussurrassem que o reino da ilusão está por um fio. Vaidade caminha sozinha pelos corredores do Coração, mas algo mudou em seus olhos. Ela se lembra do toque de Instinto, das palavras ditas na caverna.
Suas asas cortadas doem. Ela sente a ausência delas como se fosse uma cicatriz na alma, e por um momento, ela toca suas costas, sentindo a memória do que foi um dia. O público vê no reflexo de um espelho partido sua verdadeira face, não a de Vaidade, mas a de Liberdade tentando emergir.
Você pode ser o rei e pode mesmo ser até um eu. Pode até acorrentar todas as verdades nas costas da solidão. Mas, a vida nunca é a mesma, e muito menos a de quem vive nela. Um dia irá acabar todos os estoques dessa ilusão, mais cedo ou mais tarde, a vida mesmo irá se voltar contra você. E seu tombo só não será infinito porque suas escolhas não valem um segundo da verdade


Corrente fria
Oceano, profundo como os segredos que não ousa contar,
Imutável em suas marés,
Até que um dia, por acaso, viu as ondas,
Breves, insolentes, dançando como amantes livres,
Superfície que não conhece amarras,
Enquanto ele, submerso em profundidade,
Nunca tocou a liberdade que a leveza revela.
Ondas passageiras, indiferentes,
Nem notaram o olhar ardente do oceano,
Que, mudo, amava o efêmero.
Ele, criador de tudo, sem poder,
Nada pode segurar o que é fugaz,
Deslizando entre os dedos como espuma branca.
Buscou nas correntes, nos recifes partidos,
Afundou-se na própria verdade desfeita,
Espuma que foge, desfaz-se diante de si.
Oceano eterno, mas preso,
As ondas não se contêm nas marés do seu desejo,
Preso a um sentimento que não confessa,
Corrente fria que o consome em silêncio.
Amante silenciosa, corrente surda,
Ela ensina o que não pode ser falado.
Oceano navega em sua própria vastidão,
Amando sem segurar,
A grandeza do oceano reside em seu segredo,
Em deixar as ondas partir,
Em aceitar que a vida é um ciclo quebrado,
Que se arrebenta sozinha
Na maré da impermanência


a luz e o veneno
Eu sou um ritual antigo e eterno. Carrego comigo a chama de duas velas vivas, iluminando o pranto que escorre em forma de lágrimas. Estas lágrimas são minha oferenda, um sacrifício silencioso, onde a poesia se transforma na hóstia do encanto. Respiro como o vento que se enrosca no cabelo dos santos, suave e imperceptível, enquanto as costelas, que deveriam me proteger, se tornam escudos frágeis, guardando um coração que bate incessante, tentando ritmar o silêncio do mundo ao meu redor.
Na minha mente, tribos de pensamentos dançam, seus passos largos guiados pela fé cega, num compasso que balança a cintura da prece. Deus, invisível e sempre presente, balança junto, acompanhando esse ritmo. Dentro de mim, há uma basílica feita de ossos, onde a minha alma, dourada e preciosa, é adorada junto com os sonhos vivos que cultuo, sonhos que se abrem como asas na vastidão do pensar.
Eu bailo na sombra da calma, giro para desentortar os medos que insistem em me acompanhar. Em cada reza, tento elevar o desencanto, transformar o impossível em milagre, um milagre que me faça sorrir mesmo diante do desalento. Sou a própria providência, divino em minha simplicidade, como uma formiga erudita, pequena mas cheia de significado. O meu grito, quando ecoa, edifica o amor e a crença em um universo onde a dor deveria ser apenas um sussurro perdido na vastidão do que não se pode ver.
Mas aqui, onde eu deveria ser a cura, sou também a lâmina que rasga as veias do desejo. Em vez de curar, machuco. Espreito nas sombras, afiada, cortante. E mesmo assim, eu continuo, porque me disseram que este era o caminho, que este era o amor perfeito.
Muitos diriam que estou mentindo para mim mesma, que sou uma doença, uma ilusão criada pelo ‘Eu’. Mas na verdade, sou a luz e o veneno, a cicatriz e o canto. Fui levada a acreditar em promessas vazias, a persistir em um ideal que nunca existiu.


navalha fina
A cidade era um cadáver, com ossos de um copo de uísque, dando sentido ao vazio, enquanto um rio de fogo fluía em suas veias, tentando aquecer as marcas que dormiam em sua pele cansada.
O sentido de tudo, como um fantasma sem nome, perambulava em si,
Uma raiva sem dono entrou naquela casa de shows, um útero escuro, para ouvir uma voz,
Uma voz que ele conhecia de longe, mas que prometia redenção.
O cantor, uma figura misteriosa, arrancava notas da própria carne,
Cada acorde, um corte no tempo,
E o poeta, cético, descrente, sentiu o eco de algo vencido,
Como uma corda velha e empoeirada, vibrando cega,
Uma lembrança distante, uma dor preguiçosa despertando.
A música era uma navalha fina, aparando a barba do silêncio.
Os convidados agora eram sombras quietas,
Cada um, um espelho de suas próprias lágrimas.
Ele acendeu outro cigarro, o fogo uma pequena revolta contra a distância de si,
E pensou na música, na sua capacidade de moldar a noite,
De transformar o desespero em uma sinfonia amarga,
Deixando uma cicatriz invisível, um calor efêmero no peito.
A arte, pensou, era o bisturi do cantor, que abria uma fenda para a noite parir um sol boêmio, humano, raiando suas mágoas.
Ele não mudava o mundo, mas redesenhava formas de ver o passado,
Tornava o caos suportável, dava forma ao indizível.
E naquela noite fria, no Rio morto, ele encontrou mais uma pista do tesouro:
As cicatrizes sorriem.
E enquanto caminhava pelas ruas desertas, levando consigo o eco das notas,
Ele compreendeu que, na arte, o ser humano não curava suas feridas, mas tornava-se elas, até ser a própria cicatriz.
E, por um instante, a noite fria se tornou um pouco mais quente.


A Cláusula
nas entrelinhas da carne,
o acordo silencioso entre a Razão e o Ego.
São letras miúdas, escondidas nas dobras do tempo,
onde a ilusão se faz cláusula inquebrável.
A Razão, calculista, assina com mãos firmes,
pesando cada vírgula,
cada ponto final que sufoca a emoção.
E o Ego, vaidoso, sela o pacto,
protegendo-se com muralhas de orgulho,
evitando qualquer brecha para a dor.
Mas eu, prisioneiro dessa aliança,
mergulho em papéis que não compreendo,
tentando rasgar contratos invisíveis,
enquanto o tempo ri,
sentado no canto escuro da sala,
sabendo que sou refém
das horas que nunca foram minhas.
Quem dera quebrar o selo,
libertar o coração da lógica fria,
mas a pena é pesada,
e a liberdade é um sonho
que se dissolve na tinta que escorre
de um contrato que jamais quis assinar.


...A virada do ano é uma ilusão, uma tentativa infantil de domar o tempo.
“Vou amar mais,” mas o amor não é verbo, é substância que ninguém sabe criar.
amor líquido, não é rio, apenas um copo que cai da mesa enquanto se tenta brindar algo que nunca existiu.
Troca-se amigos, amores e sonhos como quem troca de absorvente.
O primeiro sangue, a primeira dor, e já procura-se um lençol limpo, uma pele que não carregue o cheiro do ontem.
São águas rasas.
Rimos da liberdade enquanto nos acorrentamos às notificações que piscam nas telas.
O desejo é um fluxo interminável, escorrendo sempre, evaporando antes de formar um mar.
A vida, essa cadela velha com dentes quebrados, morde mesmo assim.
Ela te pega pelos calcanhares enquanto você tenta dançar
uma coreografia inventada, com memórias queimadas no cinzeiro da mente.
Fugimos da constância porque ela pesa,
porque sustentar o outro é sustentar o espelho que ele carrega. Um toque, um beijo, uma mensagem:
tudo evapora na mesma velocidade em que foi criado.
Não há abraço que o contenha, apenas a sensação fantasma de algo que nunca foi inteiro.
Nada é sólido, e é essa impermanência que dá sentido.
Então brindemos, não ao futuro, mas à fragilidade.
brindemos às mãos que se soltam e aos pássaros no fio elétrico:
pousam por um instante e logo seguem,deixando o silêncio que sempre esteve lá. E há beleza nessa precariedade.
A transitoriedade nos lembra da impermanência de tudo.
Talvez seja na aceitação da falta, na trepada com a incerteza, que encontramos a vida.


O relógio não marca o tempo
O relógio não marca o tempo, apenas o dissolve em gotas suspensas de eternidade. Esse descompasso das horas , onde os sonhos se despedaçam em partículas de desejo, nos revela que o tempo é um ritmo sem batida, uma respiração que atravessa as sombras e nos arrasta para longe do porto seguro da razão.
O destino. nos cospe, sim, em becos sem saída, mas o faz com uma espécie de amor ardido, como se nos dissesse que o verdadeiro significado está no tropeço, no inesperado que ri da ordem e da previsibilidade.
Não há um destino, mas linhas de fuga, fluxos que escapam, que fogem de si mesmos, que nos levam a experimentar o caos como criação, o acaso como intensidade. Esse sopro de nada, que dança entre o tic e o tac, não é vazio; ele é a possibilidade do novo, o espaço onde germinam galáxias de sentido, mesmo que suas luzes já tenham morrido antes de nos alcançar. Nesse espaço, habitam os nossos medos, nossos desejos, as palavras não ditas e os ecos de todas as vidas que poderíamos ter sido.
Somos fios, sim, mas não simplesmente perdidos , somos vibrantes, interconectados com o desconhecido. As mãos que nos tecem não são cegas por falta de visão, mas por excesso de horizontes, porque veem através de todas as coisas, e além delas. Elas não tecem o destino, mas possibilidades infinitas, e o fazem em uma língua ancestral, aquela que sentimos sem entender, que nos chama ao abismo de nós mesmos e nos convida a dançar com a incerteza


Helena (7 anos)
Parabéns, minha cúmplice de tantos aprendizados. A minha maior regalia é poder me encontrar TODOS os dias ao seu lado.
Ter filho não é sobre executar uma fabricação de educação exata para instituir um ser que instruímos os nossos infidos valores de correção humana, ou, menos ainda, impender nossas perspectivas sociais de “ser bem-sucedido”.
Vejo a paternidade quando me adquiro no milagre de instruir aquilo que eu mesmo não compreendia. É se flagrar com o mistério natural da sabedoria que já alcançávamos antes do útero materno.
Para minha filha, espelho tudo de benevolente que NÃO SEI; baseado na mais rica das bravuras: o amor incondicional.
Quando Helena zanza, aprendo junto; quando acerta, partimos para a próxima dúvida da alma.
Educar um filho é sobre entalhar as rugas da própria existência.
7 anos atrás, minhas certezas escorreram pelo ralo do umbigo; removi Deus das nuvens da tolice e passei a estudar coisas que eu nunca pude bancar por mim: trocar minha própria fralda, eleger meu nome, interromper meu cordão umbilical, inteirar no curso de pré-natal pra acolher um ser raiando para vida…
Tanta coisa que até parece quase nada! Tanto tudo a todo instante que nem ressalvo a quantidade da minha presença antes da paternidade.
Ser pai não se trata apenas de “botar no mundo” e sair “Cagando regra” de “Não e Sim”, “Pode e Não Pode”…
A instrução mais básica é tentar fincar em um novo ser, coisas que, em nós mesmos, são de diário treino: evitar fazer “o MAU“ para si e para os outros! PONTO!
De resto, o universo tem um grande plano amoroso para todos que confiarem no amor sem medo.
O amor não é sobre esperteza, domínio, poder, fortuna e vitória.
O amor é mais sobre “amar baratas” do que matar o que te assusta.
O erro é apenas o ponto de partida de qualquer acerto.
Paternidade é a uma constante prática de ser um exemplo digno dessa benção de lançar uma vida nova nesse mundo complexo.
investigo todo dia uma tentativa de que minha filha sempre saiba que pode contar comigo para ser ELA MESMA.
A coisa que mais amo é amar.


Evangelho Segundo o Homem Que Arde
Capítulo 1 – Versos 1 ao 10
1
No princípio não era o verbo,
era o grito atravessado na garganta do homem nu.
Era o soluço que Deus ignorou.
Era o amor não correspondido pendurado no varal das esperas.
2
E disse o homem em febre:
"Se sou imagem, sou distorcida.
Se sou criação, sou falha."
E então queimou o espelho.
3
Pois o reflexo lhe mentia mais que o mundo.
E não há Deus que salve quem já se confessou sujo
sem encontrar perdão nos olhos do outro.
4
Então o homem caminhou sobre brasas,
não para provar sua fé,
mas pra lembrar ao chão
que também existe dor que escolhe onde pisa.
5
E cada passo era um poema que o corpo não sabia escrever.
E cada calo, uma estrofe da pele recusando se calar.
E cada queimadura, um evangelho da queda.
6
"Não me peçam pureza", dizia,
"pois fui parido entre gemidos de mulher morta de cansaço
e criado nos escombros do afeto adiado."
7
A infância foi uma missa interrompida.
O amor, um cão faminto latindo no cio da memória.
E o perdão, um luxo que nunca coube no bolso da alma.
8
O homem cuspia verdades de se engasgar.
Seu coração era um canivete suíço:
abria cartas, cortava vínculos,
e às vezes, fazia cafuné em quem já partia.
9
Ele não queria redenção,
só um abraço que não pedisse nada em troca
além do que ele já havia perdido.
10
E por isso arde.
Arde não por castigo,
mas por excesso de fé em um Deus que talvez exista
mas que nunca soube onde fica o centro do peito humano.
Capítulo 2 – Versos 1 ao 17
O Livro da Garganta Que Engole o Mundo
1
E quando tentei rezar,
não encontrei palavras
só feridas com vontade de ser boca.
2
A oração nasceu rouca,
feita de gritos mal-digeridos
e de promessas que Deus esqueceu de responder.
3
Minha garganta era altar e esgoto.
Ela devolvia ao mundo os nomes que não me serviam mais.
Pai. Santo. Amor. Paz. Perdão.
Tudo veio à tona com gosto de vômito.
4
A voz que sobrou não era minha.
Era herança de gerações que morreram caladas,
com os punhos fechados e os olhos pedindo desculpas.
5
Então decidi berrar,
não como quem busca escuta,
mas como quem desafia os ouvidos do céu.
6
Porque não há paraíso
que se sustente de silêncio imposto.
Nem inferno que valha a pena sem poesia.
7
E minha garganta,
essa traidora bendita,
engoliu o mundo e o devolveu em versos.
8
Vomitei cidades, mães, rezas, revoltas.
Cuspi rostos que me prometeram amor
e me entregaram ausência de retorno.
9
Deitei no colo da minha própria saliva
e chorei a infância que ninguém quis adotar.
10
Pois a infância do homem que arde
é sempre um pátio abandonado,
com brinquedos quebrados por dentro.
11
E nesse choro fermentado em vísceras,
nasceu a linguagem dos que amam errado:
gritar, calar, esperar, implodir.
12
Eu, garganta que sangra nomes,
aprendi que amar é engolir espinhos
esperando que nasça uma flor na língua.
13
E quando alguém me perguntou o que eu sentia,
ofereci um grito inteiro,
embrulhado num beijo maldito.
14
"Sou só barulho de dor bem escrito", eu disse.
"Sou prece embriagada no bar da alma."
"Sou o sim que ninguém ouviu, mas que eu berrei mesmo assim."
15
A verdade é que toda alma quer ser engolida,
mas tem medo de virar fezes na memória do outro.
16
E se Deus ainda escuta,
que ele saiba:
minha garganta agora é templo,
mas aceita sacrifícios.
17
Quem quiser me amar,
que venha de joelhos,
não por submissão,
mas pra sentir no chão
o peso de um mundo que eu engoli calado.
Capítulo 3 – Versos 11 ao 21
11
E disse o homem ao céu calado:
“Tu, que não foste tocado nem pela dúvida,
como ousa julgar quem ama até apodrecer?”
12
Pois Deus é virgem.
Nunca provou o ferrugem do desejo.
Nunca sangrou entre os dentes a palavra engasgada.
Nunca se despiu por inteiro diante do olhar que parte.
13
Virgem.
Sim.
Deus é virgem
porque nunca dormiu com a culpa,
nem beijou o caos de um corpo em ruína.
14
Mas eu, filho da falha,
eu me entreguei aos abismos com flores nos bolsos.
Fiz altar do meu erro.
Fiz oração com palavrão.
Fiz amor como quem implora para desaparecer.
15
E no silêncio entre o último trago e o primeiro choro,
entendi:
a santidade não vive nas alturas,
mas na sarjeta onde ajoelham os que perderam tudo
e ainda assim tentam amar.
16
Porque só ama quem se oferece em sacrifício.
Só ama quem se abre como ferida.
Só ama quem goza sem garantia de retorno.
17
E se Deus é virgem,
então eu sou o evangelho da carne exposta.
O salmo das tripas.
A oração cuspida por quem já não teme a perdição.
18
Pois eu fui altar,
fui templo,
fui prece,
e mesmo assim,
fui negado.
19
Então escrevo este livro,
com sangue, gozo e lágrima,
pra lembrar aos que vierem depois:
20
o sagrado também treme.
o sagrado também caga.
o sagrado também ama até odiar.
21
E que o primeiro Deus que quiser me punir,
desça da sua virgindade
e prove a carne do mundo antes de falar meu nome.
Capítulo 4 –O Livro da Cicatriz Que Ri
Versos 1 ao 22
1
E quando a dor já não chorava,
ela riu.
Riu feito bêbada que entendeu tarde
que a queda era o caminho.
2
Riu com a boca cheia de espinhos,
com os joelhos rasgados,
e os olhos inchados de tanto não ver.
3
Porque a cicatriz é isso:
um riso torto na pele,
dizendo: “eu sobrevivi àquilo que tentou me apagar”.
4
E nesse riso,
eu descobri que o sagrado também sangra.
Mas sangra bonito,
com purpurina e palavrão.
5
Eu sou a prova viva
de que o inferno tem trilha sonora
e que às vezes o paraíso toca funk sujo na laje da alma.
6
Todo o amor que me matou
ainda mora em mim como hóspede indesejado,
mas agora paga aluguel com lágrimas vencidas.
7
E eu, inquilino da minha própria pele,
abro as janelas do peito
pra deixar sair o cheiro do luto mal curado.
8
Não quero cura.
Quero cicatriz com neon,
com glitter de guerra,
com grafite pichado em templo.
9
Pois quem amou como eu amei,
nunca volta inteiro,
mas volta dançando.
10
Volta com um cigarro na boca,
um poema no bolso,
e um NÃO bem grande entre as costelas.
11
E se perguntarem se doeu,
direi:
“Foi parto.”
Mas o filho que nasceu fui eu mesmo,
rasgado de dentro pra fora
pelas mãos de um adeus.
12
O amor me pariu
e depois foi embora sem assinar a certidão.
13
Então eu dei meu nome ao que sou:
Cicatriz.
Escrita com saliva e caco.
14
E com essa nova assinatura,
comecei a andar pela cidade
feito um profeta bêbado de lucidez.
15
Falei com mendigos,
pichadores,
corpos em overdose,
e todos eles disseram a mesma coisa:
“o amor é um vício que finge ser remédio.”
16
Aceitei.
Tomei a dose.
Vomitei o remédio.
17
E de joelhos na sarjeta,
gritei pro céu:
“Se for milagre, que me fira de novo.”
18
Porque aprendi que milagre de verdade
é quando a gente ri no lugar da dor
sem fingir que ela passou.
19
Eu não quero esquecer.
Quero lembrar com estilo.
20
Quero ser aquele que aponta a cicatriz
e diz: “foi aqui que me enterrei…
mas cavaram errado.”
21
Porque a dor me quis morto,
mas eu virei livro.
22
E cada verso meu agora é um prego
no caixão do que tentaram fazer de mim.
Capítulo 5 – O Livro das Palavras Que Foram Expulsas do Dicionário
Versos 1 ao 24
1
No princípio era a palavra.
Mas a palavra era limpa demais
pra dizer o que o peito sentia.
2
Então o homem cuspido pelo abandono
recriou a língua:
com gírias, gemidos, ganchos de dor
e risos bêbados no meio da tragédia.
3
Criou palavras tortas
pra sentimentos que o dicionário não ousa nomear.
4
Palavras como:
desamar,
inperdão,
quasedeus,
5
Palavras que fedem a carne viva
e brilham como pecado recém-nascido.
6
Palavras que não cabem em livros de autoajuda
porque ajudam a destruir antes de reconstruir.
7
E disse o homem que arde:
“Essas são minhas escrituras.
Meus palavrões sagrados.”
8
Porque toda palavra limpa é uma mentira suprimida.
E toda palavra suja já foi verdade em algum corpo suado.
9
Expulsaram essas palavras das escolas,
dos salmos,
dos jantares em família.
10
Mas elas vivem nos muros,
nas cartas rasgadas,
nas músicas que só tocam no escuro
quando ninguém tá olhando.
11
E são elas que curam.
Porque o que não tem nome, apodrece.
E o que é nomeado, sangra.
E o que sangra, volta.
12
Volta com voz.
Volta com garras.
Volta com poesia de esquina que morde.
13
Então o homem que arde reuniu todos os expulsos,
os silenciados, os loucos, os cansados, os poetas de banheiro,
e disse:
14
"Vamos inventar um idioma onde o amor não precise fingir ser leve.
Onde o grito seja bem-vindo como o riso.
Onde o erro seja saudado como se fosse milagre."
15
E escreveram na parede da cidade:
“Aqui só entra quem ama com ferida aberta.”
16
E quem não entendia, zombava.
Mas quem doía, lia.
17
E chorava.
E sorria com os dentes podres.
E entendia.
18
Porque ninguém escapa da palavra certa
quando ela entra como faca
e sai como cura.
19
A santidade não está na gramática,
mas na gramática que chora no canto do quarto
com um bilhete amassado no bolso.
20
E toda palavra inventada com dor
vira evangelho para os que não têm onde dormir.
21
E todo silêncio que se nega a virar fala
é um Deus se recusando a nascer.
22
Por isso, escrevo este livro.
Para que os mudos falem.
Para que os surdos sintam.
Para que os santos aprendam a pecar com mais poesia.
23
E que cada palavra proibida
seja tatuada no peito dos que ainda resistem.
24
Pois o verbo se fez carne,
mas a carne se fez grito.
Capítulo 6 – O Salmo das Ruínas Que Ainda Estão de Pé
Versos 1 ao 25
1
E o homem que arde caminhou entre os escombros,
e cada pedra que antes foi lar
agora sussurrava o nome de um erro.
2
O templo estava em ruínas.
Mas a ruína estava de pé.
Como quem sangra de pé pra não assustar a esperança.
3
“Eis aqui minha catedral de cacos,” disse ele.
“Todo amor que não resistiu virou vitral estilhaçado.”
4
E mesmo assim: havia luz.
5
Porque o sol não julga.
Ele entra até no quarto de quem odeia viver.
Sem pedir licença.
Sem cobrar oração.
6
E o homem que arde colheu os tijolos caídos,
fez deles degraus.
Fez deles letras.
Fez deles cicatriz com arquitetura.
7
Pois só quem perde tudo sabe o valor de uma parede rachada
que ainda segura o teto da esperança.
8
“Meu altar agora é feito de migalhas,” ele disse.
“E cada migalha é sagrada porque não foi embora.”
9
Entre os escombros, achou uma colher.
Com ela comeu memória.
Misturada com poeira e perdão vencido.
10
Achou um retrato
rasgado ao meio.
De um sorriso que já não existe.
11
Olhou bem o retrato.
E chorou.
Não de dor.
Mas porque reconheceu ali alguém que um dia foi ele.
12
“Eu fui aquele homem que ainda acreditava,” ele sussurrou.
13
E jurou em silêncio:
“Se eu puder reconstruir algo com isso,
vai ser um lar onde a tristeza possa dormir sem ser expulsa.”
14
Pois a ruína também quer colo.
15
A ruína também precisa de abrigo do vento.
Mesmo que seja pra continuar caindo aos poucos.
16
E o homem que arde sentou-se na lama da saudade,
abriu o peito,
e plantou uma flor no lugar onde o orgulho morava.
17
Regou com lágrima.
Com vinho barato.
Com poesia esquecida em guardanapos.
18
E jurou pra si mesmo:
"Não serei mais um prédio de concreto com alma vazia.
Serei casa de barro com coração pulsando."
19
Pois o sagrado não vive no alto dos arranha-céus,
mas na humildade de uma estrutura que aceita cair,
pra aprender a se levantar com graça.
20
E todo amor que virou poeira
ainda dança quando o vento tem memória.
21
E toda dor que virou canção
ainda canta no ouvido dos que não têm mais voz.
22
"Eu não quero vencer a vida," disse ele.
"Quero apenas sobreviver com estilo,
mesmo que minha elegância seja feita de trapos e esperança teimosa."
23
Porque há beleza na queda
quando ela ensina o corpo a cair com arte.
24
E há templo em toda ruína
onde alguém decide continuar.
25
Assim escreveu o homem que arde:
“Se um dia vieres a mim,
não me traga flores.
Traga teus escombros.
E construiremos um poema onde antes havia um colapso.”
Capítulo 7 – Carta aos que Fingem Não Arder
Versos 1 ao 26
1
Aos que vivem com o peito abafado,
com medo de tossir labaredas,
com medo de que o mundo descubra
que estão em chamas por dentro:
2
Este capítulo é vosso.
É vossa carta secreta.
Vosso espelho sem maquiagem.
3
Eu sei.
Vocês sorriram tanto que esqueceram o gosto da dor sem disfarce.
4
Vocês aprenderam a sentar-se eretos
mesmo quando o mundo afundava em seus ombros.
5
Treinaram a arte do “tô bem” com tanta precisão
que até Deus confundiu com verdade.
6
Mas eu vos pergunto:
o que ganha o homem que nunca admite sua febre?
7
O que sobra pra alma que nunca goza sua dor inteira?
8
Pois é na confissão do caos
que começa a revolução do íntimo.
9
Não é vergonha arder.
Vergonha é fingir que se é gelo
quando o coração berra por incêndio.
10
De que adianta a sobriedade social
se o peito vive bêbado de gritos calados?
11
Aos que nunca quebraram um prato,
mas engoliram cacos diariamente
eu vos reconheço como santos.
12
Pois a santidade verdadeira
não brilha,
não levita,
não flutua.
13
Ela rasteja com elegância,
com olhos fundos e mãos sujas de silêncio.
14
E ao contrário do que dizem,
não é pecado enlouquecer discretamente.
15
É sobrevivência.
16
Escrever com sangue é a única forma de poesia que não mente.
17
Chorar sem plateia é o ato mais íntimo de oração.
18
E amar sem garantia é a mais sincera forma de fé.
19
Portanto, aos que fingem não arder,
eu peço:
larguem a farsa.
20
Sejam fogo.
Sejam cinza.
Sejam vapor.
Mas por tudo que é humano, não sejam estátua.
21
Pois até o mármore cansa de ser frio.
22
E até o espelho prefere se estilhaçar
a refletir mais uma mentira bem penteada.
23
Deus, se existe,
só reconhece aqueles que entram no templo da vida
com a alma em carne viva.
24
Que não negam sua loucura,
nem seu riso torto,
nem seu amor mal curado.
25
Este evangelho não é pra quem se salva.
É pra quem se arrebenta e ainda assim canta desafinado no escuro.
26
Porque fingir não arder…
é o pior tipo de incêndio.
Capítulo 8 – Livro das Promessas Que Nunca Foram Ditas
Versos 1 ao 24
1
Há palavras que morrem antes de nascer.
Morrem no palato.
No quase suspiro.
Na hesitação do peito.
2
Há promessas que não foram feitas,
mas que doeram como se tivessem sido quebradas.
3
E eu as escrevo aqui.
Com a tinta do que não aconteceu.
Com o sangue coagulado do que nunca foi.
4
A primeira promessa não dita:
“Eu vou te proteger até quando você me odiar.”
5
A segunda:
“Se um dia você fugir de si, eu te encontro e te devolvo ao teu riso.”
6
A terceira:
“Mesmo quando eu for embora, vou deixar um lugar aceso dentro de mim pra tua volta.”
7
Mas nenhuma foi dita.
Porque o medo gritou mais alto.
E o tempo não tem replay.
8
Você sentia.
Eu sentia.
Mas entre sentir e falar, existe um abismo chamado covardia.
9
O amor não dito envelhece nos ossos.
Cria nódulos de mágoa.
Espalha silêncio pelos corredores da memória.
10
E hoje, em cada ruído do mundo,
eu ouço o som do que não dissemos.
11
Você sorria, mas não dizia.
Eu te olhava, mas não ousava.
12
E assim fizemos um pacto de omissão
uma fidelidade aos gestos incompletos.
13
Agora eu te pergunto:
quantos amores morreram assim?
Desnutridos.
Abortados antes da primeira troca de verdade?
14
Quantos “eu te amo” foram assassinados
pelo medo de parecer piegas, fraco, bobo?
15
A boca que não fala se vinga no corpo.
E o coração que se cala constrói prisões com a própria voz.
16
Por isso este capítulo é um cemitério.
Cada verso, uma lápide do que calamos.
17
Aqui jaz o toque que não demos.
O perdão que não pedimos.
A coragem que adiamos.
18
Mas mesmo o silêncio guarda sua liturgia.
Mesmo o não dito tem som
um som triste,
suave,
insistente.
19
Se você ouvir bem,
vai perceber que ainda estamos ali,
tentando dizer com os olhos
o que a boca falhou.
20
E eu, que sou o profeta dos não ditos,
escrevo este evangelho para os mudos de alma.
21
Aos que ainda amam escondido.
Aos que doem em sigilo.
Aos que apertam forte e chamam de “tchau”.
22
Saibam:
o que não foi dito ainda respira.
A palavra é semente; mesmo enterrada, ela grita sob a terra.
23
E um dia, talvez tarde demais,
o mundo inteiro ouvirá
aquilo que não dissemos.
24
E será poesia.
Ou luto.
Ou os dois.
Capítulo 9 – Livro das Transas Que Foram Preces
Versos 1 ao 28
1
Nem toda prece começa com "amém".
Algumas começam com um toque.
Outras, com uma mordida no ombro.
E tem aquelas que só começam depois que tudo acaba.
2
As transas que tive foram mais sinceras que muitos abraços.
Mais devotas que muitos fiéis.
Mais puras que qualquer dogma.
3
Houve noites em que meu corpo orou inteiro
dentro de outro corpo que também implorava salvação.
4
A pele não mente.
Ela sangra. Ela suplica. Ela oferece.
A pele é o testamento do que não sabemos dizer com a boca.
5
Teve vez em que eu gozei como quem se confessa.
Nu, suado, exausto,
pedindo perdão por ter existido tão intensamente.
6
E ela
a mulher que me rezava com os quadris
me absolvia com os olhos.
7
Fomos santos de motel,
de cama torta,
de lençol sujo,
mas o espírito ali
o espírito estava limpo.
8
Porque não há pecado na entrega.
O pecado é o fingimento.
O beijo sem alma.
O toque que pensa em outro nome.
9
E nós não pensávamos.
A gente ardia.
A gente era verbo.
10
Transar com ela era como ser lido em voz alta por Deus bêbado.
E mesmo torto, o divino se fez.
11
Cada posição era uma nova oração.
De costas, de frente, de lado
tudo era liturgia.
12
Não havia culpa.
Só um altar quente onde se sacrificava o medo.
13
E eu, filho do fogo,
acendi cada vela com meu próprio cio.
14
Teve noite em que meu pau foi mais honesto que minha fé.
E minha língua, mais generosa que meu coração.
15
Porque quando amamos na carne,
nos tornamos criaturas transparentes.
Sem mentira. Sem orgulho. Sem disfarce.
16
Ela dizia meu nome como quem descobre um mantra.
E eu respondia no ritmo da respiração dela.
17
Foi ali que entendi:
o verdadeiro templo é feito de gemido.
E o céu, às vezes, se abre num orgasmo mútuo.
18
Nada nos faltava.
Nem promessas. Nem futuro.
Só o agora nos bastava e bastou.
19
Transar com ela foi um sacramento sem religião.
Sem catecismo.
Sem dízimo.
Só comunhão.
20
O suor era vinho.
A saliva, hóstia.
O gozo, redenção.
21
E mesmo depois, quando o corpo acalmava,
o espírito continuava dançando ali,
entre as coxas, entre os cheiros,
entre os silêncios que ficaram.
22
E eu entendi:
não era ela.
Era o que ela despertava em mim.
Era o altar que a presença dela construía.
23
Depois, claro, o mundo voltou.
O medo.
O ego.
As palavras.
Mas naquele instante, naquele instante,
fomos a prece mais suja e mais sagrada do universo.
24
Eu não sei se Deus ouviu.
Mas meu corpo ouviu.
E a alma...
a alma gemeu mais alto do que nunca.
25
Essa foi a missa do meu caos.
A celebração do meu desejo.
A profecia da carne que clama por sentido.
26
E agora escrevo este capítulo
pra lembrar a quem esqueceu que
o amor também goza.
A fé também treme.
O divino também sua.
27
Se um dia alguém te tocar assim
como quem te reza
agradece.
28
Porque você não foi fodido.
Você foi salvo.
Capítulo 10 – Ressaca Depois da Revelação
Versos 1 ao 27
1
Depois da epifania vem a pia cheia.
A toalha suada.
O lençol amarfanhado de verdades que não cabem na cama.
2
A luz entra pela fresta da janela como um Deus envergonhado.
Tímido.
Sem saber onde pisar depois da glória.
3
Meu corpo ainda vibra como uma igreja depois do culto.
Mas já é segunda-feira.
E o sagrado tá atrasado pro trabalho.
4
A revelação veio forte
me atravessou feito cometa.
Mas o que ficou?
Cinzas na boca.
Um gosto de estrela morta.
5
Eu vi Deus de dentro do meu caos.
E ele não era nada além do reflexo da minha fome.
6
Mas depois...
depois Ele foi embora.
Nem deixou bilhete.
Nem número de contato.
Nem promessa de volta.
7
E eu fiquei aqui.
Com a cara no espelho.
Com o pau murcho.
Com a alma pendurada no varal do ego.
8
Essa é a ressaca da revelação:
não tem remédio.
Só tem resíduo.
Só tem aquela sensação de que algo te tocou
e você nunca mais vai ser o mesmo
e foda-se se ninguém acredita.
9
Tentei contar pra alguém.
Disse que vi o divino entre as coxas de uma dúvida.
Riram.
Chamaram de delírio.
Disseram que foi só tesão.
10
Mas meu espírito sabe.
Ele ainda manca da queda que levou
quando tentou abraçar o céu.
11
E a saudade?
A saudade é o preço da lucidez momentânea.
12
É o boleto da alma que acordou lúcida num mundo de zumbis.
13
Fiquei dias tentando rezar de novo.
Mas a fé não aceita repeteco.
Milagre não faz turnê.
Ele passa, te desmonta,
e vai embora sem deixar camiseta oficial.
14
E agora?
Agora me resta limpar a casa,
varrer os cacos do que fui,
jogar fora as flores secas da esperança que murchou.
15
Fui céu, fui altar, fui orgasmo.
Hoje sou só sofá com cheiro de ontem.
16
Mas mesmo assim
mesmo assim
há um tremor dentro do meu peito
que não se apaga.
17
É como se a divindade tivesse deixado um fósforo aceso.
Um aviso.
Uma cicatriz.
18
Porque quem já dançou com o absoluto,
mesmo bêbado,
nunca mais caminha reto.
19
Toda alegria intensa vem com rodapé de tristeza.
Toda revelação traz sua cota de ressaca.
20
E toda alma que arde um dia se queima.
21
Mas veja bem:
eu não me arrependo.
A glória valeu a queda.
22
Eu prefiro ser esse mendigo de milagres
do que mais um crente morno de certezas.
23
Prefiro a vertigem à paz
se a paz for essa morte sem barulho.
24
Prefiro ser bêbado de revelação
do que sóbrio de mentira.
25
E se o preço for a ressaca,
que venha.
Com vômito, culpa, tremedeira e lembrança.
Mas que venha.
26
Porque viver, meu bem,
é aceitar que depois da glória vem o vácuo.
E mesmo assim, ainda abrir os braços.
27
Amém, e foda-se.
Capítulo 11 – Cartas do Homem Que Queimou e Ainda Assopra Suas Cinzas
Versos 1 ao 28
1
Escrevo porque ainda estou quente.
Não por esperança.
Mas porque tem fumaça me impedindo de esquecer.
2
Escrevo como quem apaga incêndio com saliva.
Como quem desenha mapa nas cinzas de si mesmo.
3
Essas não são cartas de amor.
São bilhetes de socorro jogados do centro do fogo.
4
Pois queimei.
Sim.
Ardi até o osso.
E no fim, descobri que meu nome era combustível.
5
Você me acendeu achando que eu era vela,
mas eu era dinamite.
E explodi de amar.
6
Não sobrou muito.
Algumas fotos.
Uns sorrisos fantasmas.
O cheiro do teu cabelo queimando minha fé.
7
Você foi o fósforo.
Eu fui o barril.
O beijo foi o estopim.
E agora só resta silêncio em ruínas.
8
Guardei suas palavras como se fossem mantimentos.
Hoje, só escuto o eco delas apodrecendo na prateleira da memória.
9
Você dizia:
"Eu te amo, mas você é demais."
E eu respondia:
"Demais é o mínimo pra quem nasceu querendo incendiar o céu."
10
Você achava que podia me conter.
Mas eu nunca fui casa.
Sempre fui terremoto.
11
Essas cartas não são pra você voltar.
São pra mim lembrar o que sou quando esqueço.
12
Porque às vezes, quando a dor se acomoda,
a gente pensa que foi só exagero.
13
Mas não foi.
Foi queda livre.
Foi apocalipse íntimo.
Foi vício em abraço errado.
14
Sim, te amei como se fosse religião.
Mas agora rezo pra mim mesmo.
15
E cada carta que escrevo é um pedaço da pele que deixei contigo.
16
Às vezes, esqueço que estou vivo.
E preciso me escrever pra acreditar.
17
Sou o homem que ardeu.
Que virou vela de enterro do próprio coração.
18
Mas ainda assopro minhas cinzas.
Porque no pó ainda há traço.
E onde há traço, há testemunho.
19
Se você receber isso algum dia,
não leia como culpa.
Leia como crônica de um sobrevivente.
20
Porque amar você foi como gritar no vácuo:
o eco voltou, mas não trouxe socorro.
21
Mesmo assim, grato.
Por cada segundo em que achei que o mundo valia a pena só porque você estava nele.
22
Agora, o mundo continua igual.
Mas eu troquei de pele.
Sou minha própria fênix.
Mesmo com as asas tortas.
23
Assopro minhas cinzas como quem sopra vela de aniversário:
sem saber se deseja renascer ou só apagar logo.
24
Talvez essas cartas virem cinza também.
Mas ao menos foram fogo por um segundo.
25
E isso já basta.
Pra quem ama como quem se vinga da morte.
26
Se amar foi minha doença,
escrever é minha cicatriz.
27
E enquanto tiver palavra,
terei faísca.
28
Amém, e foda-se.
Capítulo 12 – Oração do Corpo que Desistiu de Ser Templo
Versos 1 ao 25
1
Hoje, meu corpo pediu demissão do sagrado.
Jogou a batina no chão,
rasgou as escrituras dos outros
e cuspiu no altar da expectativa.
2
Fui igreja demais pros outros.
Porta aberta.
Caminho iluminado.
Confessionário de carentes e cafajestes.
3
Mas agora…
fechei as portas.
Apaguei os vitrais.
Me recolhi no escuro do que ainda pulsa.
4
Não quero mais ser templo.
Nem abrigo.
Nem descanso de gente que só reza quando precisa.
5
Meu corpo cansou de ser sacrário pros desejos alheios.
De ser oferenda em nome de um amor que só vinha em pele, nunca em permanência.
6
Fui chão onde muitos ajoelharam.
Mas ninguém limpou as pegadas quando foi embora.
7
E agora oro com os dentes.
Rezo com os punhos.
Faço meu terço com cicatrizes.
8
Essa é a nova fé:
ficar de pé depois da queda
e não chamar isso de milagre,
mas de insistência.
9
Sim, Deus ainda me ouve.
Mas agora, eu falo gritando.
Garganta em brasa.
Palavra sem filtro.
10
Deus, se és mesmo amor
me devolve o que dei em teu nome e não voltou.
11
Ou então, desce do trono e me abraça sujo.
Me beija quebrado.
Me assume humano.
12
Pois esse corpo que já foi templo,
hoje é campo de guerra.
Tem trincheiras nos ossos
e bombas-relógio no peito.
13
Me chamavam de casa.
Mas invadiam, saqueavam e iam embora sem nem bater a porta.
14
Agora sou só ruína.
Mas ruína que ainda ecoa música.
E que dança com os escombros.
15
Oração do corpo que desistiu de ser templo:
Senhor,
livrai-me dos que chegam com flores e trazem facas nas costas.
Amém.
16
Livrai-me dos que tocam como quem apaga.
Dos que beijam como quem cala.
Dos que abraçam como quem sufoca.
17
Transformai minha carne em solo fértil
apenas pra quem souber plantar com respeito.
18
Seja feita a vontade do amor
mas que ele seja real.
Ou nem venha.
19
Que não me prometam eternidade
se não suportam nem minhas manhãs feias.
20
Meu corpo não é templo.
É terreno baldio com lua cheia.
É santuário em chamas onde os anjos queimam junto comigo.
21
E eu aceito.
Amém.
22
Se alguém quiser rezar aqui,
que tire os sapatos,
deite no chão
e ouça o silêncio que meu corpo aprendeu a gritar.
23
Porque toda fé começa quando a dor para de fazer sentido
e ainda assim você se ajoelha pra continuar.
24
Hoje, minha oração não tem palavras.
Tem pulsos.
Tem suor.
Tem gemido.
25
E mesmo despido de tudo,
ainda me cruzo no espelho e repito:
eu sou o milagre da carne que não pediu perdão por ser pele.
Capítulo 13 – Liturgia dos Desajustados
Versos 1 ao 27
1
Acordaram tarde,
os santos bêbados de sábado à noite,
com as pupilas dilatadas de pecado e poesia.
2
Vieram tropeçando em si mesmos,
sem Bíblia, sem guia,
sem culpa.
3
Entraram na capela quebrada do mundo
como se invadissem um show punk
ou um velório sem morto.
4
E disseram:
“Estamos vivos. Isso já basta como oração.”
5
A Liturgia dos Desajustados começa com um gole.
Segue com uma confissão em silêncio.
E termina com um grito que ninguém escuta.
6
Porque quem nasce desalinhado
reza diferente.
Sente na língua a cruz,
e no ventre, um tambor.
7
Eles são os santos de roupa rasgada,
as santas que sangram sem vergonha,
os filhos bastardos do Espírito Sem Santo.
8
Suas verdades não cabem em versículos.
Seus corpos não se enquadram nos bancos da igreja.
E seus olhos...
Ah, seus olhos veem o divino no erro.
9
Pois onde o mundo vê falha,
eles erguem altar.
10
Um cigarro aceso pode ser incenso.
Uma foda mal resolvida pode ser salmo.
Uma gargalhada no meio do choro pode ser glória.
11
Eles não se ajoelham.
Eles dançam.
Eles não perdoam rápido.
Mas também não esquecem o amor.
12
O Deus deles tem olhos pintados de rímel borrado
e voz rouca de quem já gritou demais.
13
Ele não exige pureza,
só presença.
14
Não cobra jejum,
só coragem de sentir fome e continuar.
15
Na Liturgia dos Desajustados,
a culpa é bebida quente.
A fé, um cigarro compartilhado.
O evangelho, um rascunho amassado no bolso de alguém que desistiu ontem, mas veio mesmo assim.
16
Aqui, o batismo é suor.
A comunhão é olhar.
E o amém é gritado entre goles de absinto e lembranças fodidas.
17
Os padres são poetas bêbados.
As freiras, mulheres que disseram não e sobreviveram.
Os fiéis, todos os que continuam mesmo sem saber por quê.
18
E Deus...
Deus é só o silêncio que abraça quando tudo o mais te abandonou.
19
Eles não têm céu.
Têm teto rachado e esperança costurada a tapa.
20
Têm ferida.
Têm riso.
Têm raiva.
Têm fé como quem morde.
21
Porque crer, pra eles, é continuar tropeçando
com o peito aberto e os dedos sujos de tinta, gozo ou sangue
tanto faz.
22
É sobreviver sem manual.
É amar sem prometer.
É perder sem virar pedra.
23
E se um dia alguém perguntar
“quem são esses aí que rezam tão errado?”,
responde:
24
“São os que ainda rezam.”
25
E se perguntarem:
“mas o que esperam eles?”
Diz:
26
“Nada.
Esperar é luxo de quem ainda acredita no tempo.
Eles acreditam só no agora.
E no agora, tudo é milagre.”
27
E assim termina a liturgia
com aplausos mudos,
abraços tortos,
e a certeza:
Deus mora onde ninguém mais teve coragem de ficar.
Capítulo 14 – Evangelho Segundo os Cacos Que Falam Sozinhos
Versos 1 ao 28
1
No começo era o caco.
Não houve verbo.
Houve estilhaço.
2
Cada pedaço falava em língua própria.
Sussurrava feridas em dialetos de vidro.
E mesmo quebrado, fazia sentido.
3
Os cacos se espalharam pelo chão da alma.
E todo mundo dizia:
“isso não serve mais.”
4
Mas os cacos ouviram.
E começaram a responder.
5
“Servimos, sim.
Pra lembrar o que foi inteiro.
Pra cortar quem pisa em falso.
Pra brilhar quando bate o sol da memória.”
6
Porque caco é testemunha.
Do impacto.
Da queda.
Do susto.
7
E é também o evangelho da resistência.
Da parte que não morreu,
mas também não foi salva.
8
O caco tem fé torta.
Fé que não se reconstrói
aponta.
9
E quem escuta caco, escuta a verdade sem filtro:
“já fomos copo, já fomos casa, já fomos altar.
Hoje somos só resto.
Mas resto também é raiz.”
10
Tem caco que se junta.
Mas não vira mosaico bonito.
Vira denúncia.
Vira tatuagem do que ardeu demais.
11
No altar dos estilhaços,
não se prega redenção
se confessa caos.
12
E todo caco quer apenas isso:
não ser varrido sem escuta.
13
Porque um dia, um coração tropeça,
sangra,
ajoelha no chão de si mesmo
e ali, no encontro com a sujeira,
vê um caco piscando.
14
E o caco diz:
“eu ainda sou teu espelho.
só que sem mentira.”
15
Quem ama caco aprende a sangrar devagar.
E limpar o chão com cuidado,
como quem beija um campo de batalha.
16
Deus, se existe, também já foi caco.
Talvez ainda seja.
Um pedaço perdido no fundo de alguém
que se acha inteiro demais.
17
O caco prega solidão com sotaque de infância.
Lembra os nomes que ninguém mais chama.
Carrega rostos que nem o tempo teve coragem de apagar.
18
E quando todos os oráculos falham,
é no caco que mora o recado.
19
“Sim, você quebrou.
Sim, ninguém colou.
Sim, continua doendo.”
20
Mas ainda assim, você está aqui.
Ainda assim, há voz.
21
A fé do caco é uma risada entre dentes partidos.
É um aceno tímido pra quem nunca volta.
22
É a esperança de ser esquecido num canto,
mas pelo menos, não mais chutado.
23
Alguns dizem que o caco amaldiçoa.
Mas é mentira.
O caco só não aceita ser ignorado.
24
Pois ele lembra que a quebra é a única coisa
que o todo jamais entendeu.
25
E talvez, quando o mundo se despedaçar por completo,
os cacos se reencontrem e riam juntos:
“Enfim, somos maioria.”
26
No fim, todo evangelho é feito de fragmentos.
E cada fragmento é um grito que sobreviveu ao silêncio.
27
Então ouça:
os cacos estão falando.
E se você escutar bem,
talvez ouça sua própria voz de quando ainda era humano.
28
E nesse eco,
nesse sussurro cheio de farpas,
descobrirá:
a verdade é feita de vidro.
E mesmo assim, insiste em se espelhar.
Capítulo 15 – Salmos para Quem Ainda Tem Febre
Versos 1 ao 25
1
Benditos sejam os que ainda ardem.
Pois são os únicos que não aceitaram
o gelo como religião.
2
Louvado seja o suor da alma
essa água santa que escorre
quando o corpo briga com a verdade.
3
A febre é oração sem palavras.
É Deus tocando a pele
com um dedo em brasa.
4
Quem tem febre ainda espera.
Ainda crê.
Ainda quebra a xícara do conformismo
no café da manhã da esperança.
5
A febre é o milagre do delírio.
É a lucidez se fingindo de loucura
só pra conseguir entrar pela fresta da razão.
6
Salmo do doente:
“Senhor, se é para me curar,
que seja sem anestesia.
Quero sentir até o último grito da cura.”
7
Salmo do errante:
“Que arda tudo o que me menti.
Que o calor revele
o rosto da culpa que eu pintei de paz.”
8
Salmo do que ama:
“Que minha febre evapore teu nome.
E o que restar seja o toque,
não a ausência.”
9
Pois quem tem febre,
tem fé em combustão.
10
E que se calem os frios,
os mornos, os que vestem controle.
Eles já morreram
só esqueceram de deitar.
11
A febre te visita como um profeta bêbado:
tonto, inconveniente,
mas com verdades que o remédio não entende.
12
Ela pede repouso,
mas exige escavação.
Não quer só que você deite
quer que você desista de mentir pra si.
13
Benditos sejam os que suam no escuro.
Eles enfrentam o próprio monstro
sem holofote nem platéia.
14
A febre é quando a alma pega fogo
porque não coube mais no corpo.
15
É quando a dor não pede mais socorro
ela canta.
16
E no meio do delírio,
a lucidez se insinua, nua,
numa dança com o medo.
17
O termômetro não mede o inferno.
Mas quem queima sabe o tamanho da queda.
18
E mesmo assim, entre tremores e arrepios,
há um verso escondido
no fundo da garganta seca:
"Não desista. Nem que seja só pra ver o que vem depois."
19
Quem ainda tem febre
ainda tem fogo.
E o fogo, quando não destrói,
refaz.
20
Cuidado com os curados demais
alguns deles enterraram a dor
antes que ela revelasse a verdade.
21
E cuidado também com os sãos
eles são perigosos,
pois não sentem mais nada.
22
A febre é escola.
É altar.
É exílio.
23
Mas é também retorno:
quando ela vai embora,
deixa um novo nome escrito
nas paredes do seu peito.
24
E quem sobrevive à febre,
não sai limpo.
Sai inteiro.
25
Então que arda.
Que queime.
Que delire.
Pois no delírio mora a senha
do que ainda pulsa no coração dos que não desistiram.
Capítulo 16 – Evangelho da Carne que Venceu o Medo de Sentir
Versos 1 ao 22
1
No princípio era o medo.
E o medo dizia: “Não toca.”
“Não sente.”
“Não ama sem manual.”
2
E a carne, tímida, se escondeu.
Fez do osso uma cela,
e da pele, um muro.
3
Mas um dia, o toque veio sem pedir licença.
Veio sujo, veio febril,
veio como sopro no meio do colapso.
E a carne, pela primeira vez, tremeu de verdade.
4
Não era mais prazer enlatado.
Era terremoto.
5
Era uma lágrima que se recusava a evaporar.
Era o riso errado na hora certa.
6
A carne venceu o medo
quando entendeu que sangrar também é oração.
E que toda dor é um convite pra existir mais fundo.
7
Bendita seja a mão que acaricia mesmo ferida.
Bendito o beijo que sabe que vai doer
e mesmo assim acontece.
8
Porque amar não é contrato
é incêndio voluntário.
9
E quem ama com medo
não ama: calcula.
10
Mas a carne cansou de somar.
Ela quer perder.
Quer derreter.
Quer falhar lindamente
na tentativa de ser invulnerável.
11
E disse a carne ao espelho:
“Não quero ser bela.
Quero ser sentida.”
12
Porque a beleza já mentiu demais.
E o toque ainda diz a verdade
sem precisar de legenda.
13
A carne venceu o medo
quando parou de esperar consentimento da mente.
Ela agiu.
Ela chorou.
Ela gritou “foda-se” com ternura.
14
E nesse grito nasceu o milagre:
o abraço que salva
mesmo sem prometer.
15
Porque a salvação não está na eternidade —
está na presença que treme
e mesmo assim permanece.
16
A carne não quer altar,
quer cama bagunçada,
com alma suando junto.
17
Quer olho no olho
mesmo quando o olhar falha.
18
Quer ser mapa e ser desvio.
Quer ser caminho e também tropeço.
19
E quando caiu de novo,
a carne sorriu.
Porque cair sentindo
é melhor do que flutuar anestesiado.
20
E assim, finalmente,
a carne venceu o medo.
Não porque parou de doer,
mas porque doeu e ela ficou.
21
Esse é o evangelho de quem sente sem pedir desculpa.
De quem toca com os dois olhos fechados
e o peito escancarado.
22
E ao final, o corpo escreveu com suor:
"Se eu arder, que seja amando."
Capítulo 17 – Apocalipse Segundo a Alma que Voltou pra Casa
Versos 1 ao 24
1
E depois de tudo, quando as paredes já tinham caído,
quando os altares tinham sido saqueados pela dúvida,
a alma , suja, trêmula, cambaleante
decidiu voltar pra casa.
2
Mas não havia mais casa.
Só um terreno baldio onde antes morava a fé.
3
Ali, entre escombros e cascas de promessas secas,
ela se sentou.
E pela primeira vez em eras, respirou.
4
O apocalipse não veio como fogo.
Veio como ausência.
Silêncio onde antes gritava o ego.
5
A alma, sem teto e sem roteiro,
vestiu os próprios cacos
como se fossem trajes de gala.
6
E disse:
"Que se fodam as versões de mim que vocês amaram.
Eu voltei pra ser só o que sobrou."
7
O mundo não a recebeu com trombetas.
Recebeu com bocejo.
Com notificação de débito.
Com o frio da falta.
8
Mas ali, no meio da escassez,
nasceu a abundância do que é real.
9
Pois só quem perde tudo
entende o que é estar inteiro.
10
A alma não pediu perdão.
Não buscou redenção.
Ela queria chão,
mesmo que fosse em ruínas.
11
E andou sobre os destroços do que um dia foi fé,
carregando no bolso uma oração sem palavras,
feita de suspiro e dente cerrado.
12
E no meio do nada, encontrou um espelho quebrado.
Cada pedaço mostrava uma versão esquecida de si.
A que amava sem se entender.
A que gritou demais.
A que fingiu paz por medo de perder.
13
Juntou os cacos.
Fez vitral da própria confusão.
Fez lar com vidro estilhaçado
e aceitou se cortar pra poder morar em si.
14
O apocalipse, afinal, era só a demolição do personagem.
O fim da farsa.
O último ato antes do renascimento nu.
15
E a alma, entre uma lágrima e um riso torto, escreveu na parede:
“Eu não sou salvação, sou sobrevivência.”
16
Ela entendeu:
o juízo final é íntimo.
É o momento em que você escolhe
entre continuar morrendo ou nascer do que sobrou.
17
A alma não voltou pra reconstruir.
Voltou pra existir.
Sem maquiagem.
Sem performance.
18
Voltou com cheiro de passado
e olhos de bicho ferido.
Mas voltou.
19
E nesse retorno torto,
achou um novo tipo de fé:
a fé em continuar, mesmo sem garantia de nada.
20
Porque, no fim,
o céu não é lugar, é um gesto.
É o abraço que não cobra.
É o silêncio que entende.
21
A alma agora sabe:
o apocalipse não destrói, revela.
22
E revelou que tudo o que importava
já estava dentro.
Debaixo da bagunça.
Enterrado na vergonha.
23
A alma voltou pra casa.
E percebeu que sempre foi casa.
Mesmo com infiltrações,
mesmo com os gritos nos corredores.
24
E ao se deitar nas ruínas de si, sussurrou:
“Se esse é o fim, então que seja meu recomeço.”
Capítulo 18 – Parábolas para os Dias em Que Quase Desisti de Mim
Versos 1 ao 25
1
E num desses dias sem nome,
em que o sol parecia um deboche
e o espelho, uma ameaça,
quase desisti de mim.
2
Sentei no chão da alma,
entre a pilha de vontades vencidas
e os ossos do que um dia chamei de sonho.
3
E ali, encostado no nada,
o mundo sussurrou em parábolas estranhas.
4
Primeira parábola:
Havia um homem que se vestia de coragem,
mas costurava suas roupas com medo.
Um dia, choveu.
E ele descobriu que coragem molhada
ainda é coragem.
5
Segunda parábola:
Uma flor nasceu no asfalto
e pediu desculpas por incomodar o trânsito.
Foi pisada.
Mas, à noite, o cheiro dela ainda colava nas solas dos sapatos.
6
Terceira parábola:
Um pássaro aprendeu a cantar engasgado.
Diziam que sua música era feia.
Mas quem ouvia com o peito aberto
descobria ali o som exato da persistência.
7
Quarta parábola:
Um homem carregava uma mala sem alça
cheia de promessas quebradas.
Certo dia, esqueceu a mala num banco de praça.
E percebeu que, sem ela, ainda conseguia andar.
8
Quinta parábola:
Um espelho cansou de refletir mentiras
e decidiu mostrar só o que doía.
Foi odiado.
Mas também foi o único que ajudou alguém a se enxergar.
9
E eu, ouvindo cada uma,
entendi que essas histórias eram minhas.
10
Que meu cansaço tinha nome.
Que meu silêncio fazia barulho.
Que meu quase desistir
era só o grito abafado de quem ainda quer ficar.
11
E naquele dia,
em vez de fugir de mim,
sentei comigo.
12
Não pedi explicação.
Não cobrei melhora.
Só me deixei existir
com todas as falhas, fraturas e febres.
13
A alma não precisa sempre ser luz.
Às vezes, ela só precisa não apagar.
14
E nesse quase desistir,
vi um detalhe:
quem pensa em desistir,
ainda está tentando.
15
Quem pensa em sumir,
ainda está aqui.
Quem escreve o fim,
ainda está com a caneta na mão.
16
A verdade é que ninguém quer morrer.
A gente só quer uma pausa
no peso de fingir que está bem.
17
A vida, esse lugar onde todos atuam,
precisa, às vezes, de um bastidor.
18
Então criei um lugar só meu:
feito de rabiscos, palavras erradas,
cafezinhos frios e um cobertor que não julga.
19
E lá chorei sem plateia.
E ri sem contexto.
E sonhei sem ser herói de porra nenhuma.
20
Naquele canto escuro,
achei um fósforo:
era o poema que ainda ardia em mim.
21
Descobri que desistir pode ser um rito.
Mas continuar é milagre.
22
E mesmo que ninguém celebre,
mesmo que ninguém note,
o simples gesto de acordar no dia seguinte
é uma rebelião contra o abismo.
23
Por isso escrevo:
pra quem quase foi,
pra quem quase deixou,
pra quem quase sumiu
você é mais do que o seu quase.
24
Você é o depois.
Você é a vírgula que impediu o ponto.
Você é o silêncio que salvou o grito.
25
E se hoje, de novo, você quase desistir,
leia isso em voz baixa:
"eu ainda estou aqui."
E isso já é ressurreição.
Capítulo 19 – Testamento dos Que Ainda Tremem Mas Não Caem
Versos 1 ao 24
1
Aos trêmulos, escrevo.
Aos que amanhecem com medo,
mas mesmo assim penteiam os cabelos da alma
e saem pra vida.
2
Aos que gaguejam suas verdades
na frente de espelhos severos.
Aos que se vestem de coragem furada,
mas ainda assim enfrentam o frio.
3
Este é o testamento dos que ainda tremem,
mas não caem.
4
Pois cair, sim, todos caem.
Mas levantar exige uma fé
que não se prega em templo algum.
5
É uma fé que mora entre a espinha e o espinho,
entre a lágrima que escorre e o riso que insiste.
6
Eu, homem em brasas,
declaro:
sou feito de estilhaços,
mas continuo vidro.
7
Já fui chão de outros.
Já fui prego, cruz, martelo e silêncio.
Já fui cama vazia e buzina de madrugada.
Mas ainda sou verbo.
8
Verbo curvar.
Verbo suportar.
Verbo viver, mesmo com a alma em greve.
9
Aos que tremem no fundo do peito,
deixo como herança o seguinte:
10
Não se apresse em parar de sentir.
É no excesso de sensação
que a gente cava a nossa existência mais verdadeira.
11
Não confie no que nunca treme.
Coisas que nunca balançam,
também não sabem dançar.
12
O tremor é irmão da criação.
É ele que anuncia que algo novo quer nascer
de dentro da tua desordem.
13
Se a tua mão treme ao escrever,
continue escrevendo.
Esse poema torto
é mais sincero que qualquer oração engomada.
14
Se o teu corpo treme ao amar,
ame assim mesmo.
É o medo que prova que você está ali de verdade.
15
E se teu joelho falha no meio do caminho,
ajoelha.
Não como quem se rende,
mas como quem faz do chão uma alavanca.
16
Aos que tremem de saudade,
de dor, de dúvida, de mundo
lembrem-se:
a terra também treme,
antes de se abrir pra semente.
17
A tua fragilidade é solo fértil.
É berço de revoluções íntimas.
18
Não esconda o tremor.
Exiba.
Como quem diz:
"Ainda estou aqui, mesmo balançando."
19
Pois há uma beleza específica
em quem escolhe viver sem garantias,
em quem não endureceu o coração
só porque a vida o fez tremer.
20
E quando perguntarem tua história,
não conte vitórias.
Conte os dias em que quase afundou
e mesmo assim ficou.
21
Porque os que caem e voltam
escrevem a Bíblia da resistência.
E Deus lê.
22
Este é o meu testamento:
não quero que lembrem de mim como forte.
Quero que digam:
“Ele tremia. Mas não caiu.”
23
E que esse legado de tremor e ternura
vire farol
pra quem pensa que sentir demais
é defeito.
24
Pois aqui jaz o segredo:
só treme quem ainda está vivo.
Capítulo 20 – Milagres Noturnos para Corações em Estado RENASCIMENTO
Versos 1 ao 23
1
E foi na madrugada sem nome
que o coração, exausto,
pediu silêncio.
Não como quem desiste,
mas como quem prepara o chão pra renascer.
2
Pois há uma hora em que a dor adormece,
e a alma, sem platéia, se recria.
3
Nesse instante entre o último soluço
e o primeiro suspiro de volta,
o milagre sussurra.
4
Não vem com trombetas.
Vem com um café frio,
um raio de luar atravessando a cortina,
um arrepio que não se explica.
5
O milagre noturno
é esse gesto invisível
que te segura antes da queda final.
6
É a vontade de levantar só pra olhar o céu.
É a lágrima que escorre sem mais precisar de motivo.
7
Milagre é lembrar o próprio nome
depois de ser chamado de nada por tanto tempo.
8
Milagre é o corpo que ainda sente.
É a vontade que volta,
devagar,
pelas frestas.
9
O renascimento nunca tem glamour.
É sujo. É sóbrio. É secreto.
Acontece entre um “foda-se” e um “talvez eu tente mais uma vez”.
10
Não se nasce novo no altar.
Se nasce novo no chão.
No meio das cinzas daquilo que você teve que queimar pra continuar.
11
Milagre é quando o medo te visita
e você diz:
“entra, mas quem manda aqui agora sou eu”.
12
É quando o amor que te destruiu
vira poema que te costura.
13
É quando você vê tua foto antiga
e, pela primeira vez, não sente vergonha,
mas acolhimento.
14
É quando o coração descobre
que a cicatriz não é falha,
é moldura.
15
A noite traz milagres
pra quem não dorme de olhos fechados,
mas de alma aberta.
16
Pra quem aceita o vazio
como parte do processo de replantar o próprio peito.
17
Não espere anjos com asas.
O milagre talvez venha numa mensagem antiga,
num livro esquecido,
numa música que você jurava que nunca mais ia tocar.
18
Renascer é como reaprender a andar depois de perder a fé nas pernas.
19
É abraçar o espelho sem exigir explicações.
É rir do que antes te matava.
É dançar com a tua sombra,
sem pedir desculpas.
20
Então eu digo:
os corações em estado renascimento
são os novos deuses.
Porque mesmo depois da morte,
eles ainda têm a audácia de amar.
21
Este evangelho foi escrito
entre soluços e respiros.
22
É dedicado aos que pensaram em ir,
mas escolheram ficar
pra ver o sol nascer de dentro.
23
E que cada noite escura
seja, na verdade,
o útero de uma nova versão de você.
Capítulo 21 – Gênesis do Homem Que Inventou o Próprio Céu
Versos 1 ao 24
1
No princípio era o cansaço.
E o cansaço era com o homem.
E o homem era um berro sem tradução.
2
Ele já não esperava o paraíso.
Ele já não rezava pelo milagre.
Ele apenas,
respirava.
3
E respirando,
percebeu:
esperar salvação é acreditar que a dor vem de fora.
Mas a dor nasce em casa,
e a salvação também.
4
Então, num gesto miúdo,
ele abriu os olhos e disse:
“Se não há céu pra mim,
eu o invento.”
5
E criou uma estrela com seu perdão.
E um cometa com seu orgasmo.
E constelações com os erros que se recusaram a matá-lo.
6
Separou luz de vergonha.
Fez da saudade um asteroide em movimento.
Chamou a si mesmo de “criação em andamento”.
7
E viu que era bom.
8
Do caos fez clima.
Da culpa fez clamor.
Do corpo fez casa e altar.
E chamou isso de lar —
um lar que pulsa.
9
No segundo dia,
descobriu que o céu que inventamos
precisa caber no bolso.
10
Que o infinito começa com um copo d’água,
uma lembrança limpa,
uma cama que não exige performance.
11
E no terceiro dia,
criou o amor próprio.
Não como espelho,
mas como abrigo.
12
E do quarto ao sexto dia,
desaprendeu o medo.
Desaprendeu a pressa.
Desaprendeu a ser para agradar.
13
Criou o tempo de dentro.
O relógio sem ponteiros.
A eternidade que cabe em 12 segundos de paz.
14
E no sétimo dia,
não descansou.
Porque sabia:
descansar é luxo de quem não arde.
15
No sétimo dia,
ele se escreveu.
Com saliva,
sangue,
esperança e vinho barato.
16
E proclamou:
“Eu sou minha gênesis.
E quem me lê, renasce.”
17
Pois os céus de fora
nunca entenderam o homem que ousa se bastar.
18
Mas os céus de dentro
brilham no escuro
sem pedir aplauso.
19
E o homem que ardeu,
hoje voa.
Com asas feitas de palavras
e lembranças que doem bonito.
20
Ele anda por aí,
deixando versículos nas esquinas,
mantras nos becos,
orações nos olhos dos que tropeçam.
21
E se alguém perguntar
quem foi esse homem,
digam apenas:
22
“Foi aquele que não pediu permissão pra criar luz.”
“Foi aquele que se perdoou antes de ser perdoado.”
23
E seu céu ainda vive
em cada um que decide
acender um sol dentro do próprio peito.
24
Amém.
Amor.
Avante.
Capítulo 22 – Profecias para Quem Acordou em Meio ao Incêndio
Versos 1 ao 25
1
E aqueles que acordaram com o quarto em brasas,
sem saber se era sonho, desgraça ou revelação,
foram chamados de loucos.
2
Mas os loucos,
ó, os loucos sabem:
quem acorda no incêndio não teme mais a luz.
3
Pois só quem já viu o teto derreter sobre os próprios olhos
aprende a dormir com o coração em alerta
e ainda sonhar.
4
E naquele dia de fumaça e ausência,
o homem queimado pela própria fé sussurrou:
“Se arder é existir, então que eu seja chama."
5
E Deus,
na sua torre de silêncio,
se calou.
6
Porque há perguntas que nem o sagrado ousa responder.
7
E o homem,
com os pulmões ainda assaltados pela fuligem da dúvida,
caminhou.
8
Descalço.
Desnorteado.
Divino.
9
E no meio das ruínas do que um dia foi lar,
ele começou a escrever com as cinzas.
10
Cada palavra uma reza que arde.
Cada frase uma fênix se debatendo.
11
E profetizou:
12
"Virá o tempo em que os partidos serão costurados com suor,
em que as feridas serão lidas como mapa."
13
"Virá o tempo em que os que choram não serão interrompidos."
14
"Virá o tempo em que o fogo não será punição,
mas batismo."
15
"Virá o tempo em que os que ruíram
serão os primeiros a ensinar a levantar."
16
"Porque só quem já ardeu inteiro
sabe soprar a brasa certa para reacender o outro."
17
E se perguntarem:
mas o que restou depois do incêndio?
18
O homem sorrirá,
com os dentes sujos de esperança queimada,
e responderá:
19
“Tudo o que não era meu virou cinza.
Tudo o que era essência, soprou e ficou.”
20
E então ensinou:
21
Aprendam a arder sem medo.
Aprendam a virar luz em vez de pó.
22
Pois quem arde com verdade,
não queima
transcende.
23
E quem acorda em meio ao incêndio,
não procura culpados:
procura sentido.
24
E se não houver sentido,
inventa um.
Com os cacos.
Com os restos.
Com os versos.
25
Porque a única profecia que vale é aquela
que você tem coragem de escrever
com a própria cinza.
Capítulo 23 – Mandamentos para Quem Se Refez com Farpas
Versos 1 ao 18
1
E foi dito ao homem que se reergueu com farpas nos pés:
“Agora que você aprendeu a sangrar em pé,
é hora de aprender a andar.”
2
Pois não há ressurreição sem espinho,
nem cura que não arda antes de acalmar.
3
Então o homem que queimou escreveu,
com dedos em carne viva,
os mandamentos de sua própria reconstrução.
4
Primeiro Mandamento:
Não se puna por ter acreditado.
A fé cega é só o primeiro passo antes da visão que arde.
5
Segundo Mandamento:
Abrace o que te rasga.
Toda farpa é aviso ou direção.
6
Terceiro Mandamento:
Não confie nos que nunca tropeçaram.
Os que nunca caíram não sabem como te levantar.
7
Quarto Mandamento:
Teus cacos são teus.
Cole-os se quiser.
Ou crie arte com eles.
8
Quinto Mandamento:
Não devolva a dor no mesmo pacote.
Transforme.
Ou você será só mais um carteiro do trauma.
9
Sexto Mandamento:
Quando o amor doer mais que curar,
seja você o curandeiro de si.
10
Sétimo Mandamento:
Perdoe com raiva mesmo.
Perdão limpo demais não serve pra alma suja.
11
Oitavo Mandamento:
Aceite os amores que vêm tortos.
Mas construa a casa reta por dentro.
12
Nono Mandamento:
Não se ache fraco por chorar.
Choro é o batismo da coragem que ficou.
13
Décimo Mandamento:
Não siga à risca nem os próprios mandamentos.
Às vezes quebrar o que escreveu é o único jeito de escrever de novo.
14
E disse o homem:
“Cada pedaço meu colado com dor é também meu manifesto.”
15
Pois quem se refez com farpas
não precisa mais temer o toque:
aprendeu a tocá-las de volta.
16
E se alguém duvidar da tua nova pele,
mostra o que ainda te dói.
Porque ali mora tua honestidade.
17
E lembra:
um corpo que caiu, levantou e ainda dança,
é milagre demais pra caber em qualquer religião.
18
Esses são os mandamentos de quem se refez no estilhaço
e ainda assim teve ternura para amar.
Capítulo 24 – Epístola para os Que Sentem Demais e Não Sabem Onde Pôr
Versos 1 ao 17
1
Aos que acordam com o coração maior que o peito,
aos que tropeçam nos próprios sentimentos
antes mesmo de pisar o chão:
eu escrevo esta carta.
2
Sei o peso que é sentir tudo.
O toque que dura dias.
A ausência que arde como presença viva.
O olhar que grita mesmo mudo.
3
Aos que amam com o fígado,
aos que choram de raiva e riem por cansaço,
aos que abraçam sem saber se voltam inteiros:
vocês não estão sozinhos.
4
O mundo não foi feito pra gente assim —
com antenas expostas e pele em carne viva.
Mas é por isso que vocês são necessários.
Vocês são os únicos que ainda escutam o silêncio.
5
Eu vos digo:
não tenham vergonha de transbordar.
Sentir demais é prova de que ainda não morreram por dentro.
É milagre clandestino.
É resistência.
6
Guardem seus sentimentos como cartas não enviadas,
mas nunca deixem de escrevê-las.
Elas são mapas para um lugar que ainda não tem nome.
7
O excesso de sentir é o dom que o mundo tentou patologizar.
Mas não se enganem:
o que chamam de fraqueza
é só a força que ainda não virou escudo.
8
Vocês são abrigo em forma de caos.
São tempestades que regam,
mesmo quando não há jardim.
9
Acreditem:
há beleza em ser furacão num mundo que venera o concreto.
10
Deixem que os outros durmam em paz.
Mas vocês,
vocês sonhem acordados.
Façam disso um rito.
11
Cada dor que vocês acolhem
é uma ferida que o mundo não quis tratar.
Vocês são os curandeiros do invisível.
Os apóstolos da empatia.
12
E mesmo que ninguém entenda,
mesmo que digam que exageram,
que são drama,
que são demais
continuem.
13
Ser demais é o que salva o mundo
da mediocridade de sentir de menos.
14
E se um dia quiserem parar,
eu vos peço:
aguardem só mais um pôr do sol.
Só mais um riso bobo.
Só mais um abraço sincero.
15
Porque às vezes, a salvação vem disfarçada de detalhe.
16
E que a vossa alma nunca caiba num diagnóstico.
Que o vosso sentir nunca se desculpe por existir.
17
Aos que sentem demais:
vocês são oração sem religião.
Poema sem métrica.
Milagre sem testemunha.
Continuem.
Capítulo 25 – Últimas Confissões Antes do Recomeço
Versos 1 ao 18
1
Antes que este livro se feche,
deixa eu tirar dos bolsos os últimos cacos.
Não pra jogar fora.
Mas pra lembrar que até o que corta
um dia serviu pra me manter acordado.
2
Confesso que menti algumas vezes,
principalmente quando disse que estava bem.
A verdade é que minha paz era só um casaco virado do avesso.
E mesmo assim, eu o vesti —
pra não assustar quem não sabia costurar alma rasgada.
3
Confesso que amei errado.
Mas amei tanto,
que até o erro virou altar.
E na solidão do depois,
conversei com santos que nem creio mais.
4
Confesso que rezei bêbado.
Que gritei com Deus num banheiro sujo.
Que pedi sinais no meio de orgasmos,
e achei respostas num poste apagado às três da manhã.
5
Confesso que não perdoei algumas pessoas.
E outras, perdoei demais.
Às vezes, por medo de perdê-las.
Outras, por medo de me perder.
6
Confesso que pensei em sumir.
Mas no meio do sumiço,
descobri que havia um rastro meu
até nos lugares que eu nunca fui.
7
Confesso que fui fraco.
E nessa fraqueza encontrei uma força esquisita,
meio feia, meio torta,
mas honesta.
8
Confesso que desejei que o tempo voltasse.
Mas o tempo não é boomerangue
é faca.
E a gente aprende a segurar sem sangrar.
9
Confesso que me arrependi de não ter dito certas coisas.
E de ter dito outras com a língua dos que não sabem calar.
Mas a verdade é que a palavra salva e fere com o mesmo corte.
10
Confesso que a vida me cansou.
Mas o pôr do sol insiste.
E a música, mesmo rasgada, ainda toca no fundo do peito.
11
Confesso que escrevi esse evangelho
pra lembrar a mim mesmo
que não nasci pra caber em dogma,
nem pra terminar como estatística de dor.
12
Eu sou o erro que não se arrepende de tentar de novo.
13
Sou o cigarro que foi apagado e reacendido.
A oração escrita num guardanapo sujo.
O beijo dado em quem já havia partido.
14
Sou o homem que ardeu e virou brasa.
Que soprou as cinzas e achou um poema.
Que morreu em várias versões
só pra nascer como página viva.
15
Não peço que me sigam.
Só que me leiam.
E, se possível, se reconheçam nos escombros.
16
Pois o milagre maior
é continuar sentindo
depois de tudo que já nos anestesiou.
17
E se um dia eu for lido em voz alta,
que seja com a voz de quem chorou por dentro e ainda assim
quis viver com gosto.
18
Amém não.
Amor.
(Do Autor que ainda treme quando ama)
Já não sei se escrevi para me curar,
ou para manter a febre acesa.
Talvez escrever tenha sido só a forma menos covarde
de continuar sangrando com alguma elegância.
Esse livro não tem final.
Não por pretensão literária,
mas porque o fim real não cabe em papel.
O fim de verdade é quando a gente para de sentir,
e disso, Deus me livre
mesmo que eu não saiba mais se acredito nele.
Talvez Deus exista só no espaço entre dois corpos que se tocaram
e não explodiram.
Ou talvez ele seja só um eco das vezes em que a gente quase se escolheu.
Este evangelho suado não pede fé.
Pede coragem.
Coragem de sentir até doer,
de se despir sem pornografia,
de não ter vergonha das próprias vísceras.
Você, que ardeu e não morreu.
Que se olhou no espelho da alma e viu um incêndio refletido.
Que quis fugir, mas ficou só pra provar que consegue amar melhor.
Este é pra nós
os exilados do amor ideal,
os hereges da emoção domesticada,
os profetas de peito nu gritando no meio do caos:
“Ainda acredito.”
E quando perguntarem que porra foi isso,
digo que foi um abraço
escrito com os ossos.
Ou melhor:
um sopro
dado por alguém
que ainda assopra suas cinzas.